Sábado, 27 de dezembro de 2025 | Porto Velho (RO)
Domingo, 7 de julho de 2013 - 11h43
Vinício Carrilho Martinez (Dr.)[1]
As mobilizações populares que tomaram conta das ruas e os acontecimentos mais atuais da realidade política brasileira são profícuos de diversos modos; em certo sentido trouxeram ares novos para os três poderes. Em um sentido propriamente político – como manifestação do zoon politikón (animal político) –, a Multidão que saiu às ruas procurou recuperar a experiência mais profunda do Poder Social, qual seja, a de que o poder é um elo, realiza-se entre-os-homens (não se limita à dominação), e um canal de comunicação, quando o povo fala abertamente, claramente, o poder central vê-se obrigado a ouvir a “voz rouca” que vem das ruas.
Sociabilidade e Poder Social
Em determinadas sociedades não-industrializadas, chamadas primeiras ou primitivas, as regras sociais exercem um tremendo fator atrativo e regulador ou até punitivo e segregacionista (o que o grego antigo chamava de ostracismo). Para essas sociedades ou agrupamentos humanos, poder é um esforço amplo de organização a partir do interesse global e para se manter um diálogo coletivo. Nessas sociedades não há, portanto, a lendária e, até certo ponto deliberada, confusão entre legitimidade e validação (sendo a legitimidade reduzida à legalidade, e a validação ficando a cargo do Estado). Nas sociedades primitivas não há Estado, daí o poder social, e por isso também não se verifica essa dualidade institucional no interior da mesma regra.
Na norma social há legitimidade inicial e consequente validação social; na regra jurídica a legitimidade é subsumida pela “regulação institucional”, em que apenas o Estado reconhece qual norma será validada. Na norma jurídica, a validação é conferida apenas pelo Estado, raramente pela coletividade. Nas sociedades primitivas, a legitimidade é conferida pela convivialidade, daí que a validação se verifica pela necessária aplicação da norma social e não pela imposição institucional do tutor do poder.
De acordo com o Estado Moderno e de forma estéril, se a legitimidade social se reduz ao processo de legalização, isto quer dizer que uma lei deve legitimar outra lei e, após isso, o mesmo Estado que instituiu a primeira lei irá validar a segunda regra jurídica. No interior do Estado, o que legitima a regra jurídica não é a vontade geral, mas sim uma “lei superior” e anteriormente aprovada. Neste chamado positivismo, o que legitima uma regra jurídica não é a necessidade social de sua existência, mas sim a chancela institucional do Estado.
Há um processo de esterilização do sentido original da norma social (como demanda social) e aspirante à função de regra jurídica. Neste sentido, a regra jurídica não é a norma social que foi positivada, uma vez que a demanda original se evaporou na institucionalização da vontade social. Na subsunção formal, sequer percebe-se o agente social; na lei, não há o sujeito da história. Por fim, pode-se dizer que a regra jurídica serve ao Estado, mas não necessariamente à sociedade, uma vez que sua institucionalização afastou o intuito inicial. A inércia transformou a soberania popular em processo político-institucional de validação e normatização da vontade do poder central (e este nem sempre é reflexo do Poder Público).
Uma regra jurídica em desacordo social beneficia o poder central, e não a soberania popular. A regra jurídica, com raras exceções, carrega em si dois sentidos: um primeiro sentido social, muito expressivo inicialmente, mas esterilizado, dormente, tornado inercial e apartado da realidade; um sentido derivado – positivado – mas que se tornou principal, após ter sido aprovado e transformado em lei pelo Estado. Na norma jurídica, a consequência (a lei) é maior, mais forte, mais vinculante, do que a causa (a vontade geral). A norma jurídica, salvo exceções, prende-se ao formalismo e não à realidade que lhe deu origem e substância.
Este duplo sentido ou dualidade institucional da norma jurídica (ao contrário da regra social)sempre foi uma manifestação obtusado direito e é o que torna muitos juristas omissos à injustiça e indiferentes à Justiça: é o caso típico da“inversão de papéis” (funções) do poder, como vemos no Judiciário brasileiroprendendo miseráveis por cometerem “crimes famélicos”. Nos casos mais chocantes, o povo está apartado de toda validação. Historicamente, há diferenças substanciais em saber se esta barreira (desconhecimento do direito) pode ser vencida (a exemplo dos processos revolucionários), mas é fato que a modernidade é marcada pelo processo de institucionalização do poder e da violência, como se o direito pudesse ser preterido (no Brasil, é notório). Todavia,espera-se ver no direito muito mais do que uma tensão entre real (política) e ideal (Justiça) — pois, se a discussão fosse assim limitada, então, voltaríamos ao ponto de partida, em que dois projetos de poder chocar-se-iam: o poder social (não sistêmico ou teleológico)versus a “força da coerção do direito” (direito sem coerção é apenas moral ou norma social). Não se pode dizer isso, ou melhor, pode-se dizer que é algo que inclua isso, mas que vai além desse ponto. Mesmo na sociedade primeira, o poder social ultrapassa a fixação das regras de convivência. Nas experiências dos povos primitivos, temos que o poder é constituinte e não mero poder instituído. Temos algo a aprender com o passado e conosco também. Isto reforça a compreensão acerca das dificuldades para se modificar os costumes (comus ou ethos); ao mesmo tempo em que reforça a necessidade de se observar a regra básica da mudança social, porque “a cultura é a alma de um povoe sua segunda pele”.
[1]Professor do Departamento de Ciências Jurídicas da Universidade Federal de Rondônia.
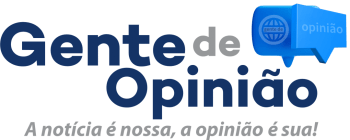 Sábado, 27 de dezembro de 2025 | Porto Velho (RO)
Sábado, 27 de dezembro de 2025 | Porto Velho (RO)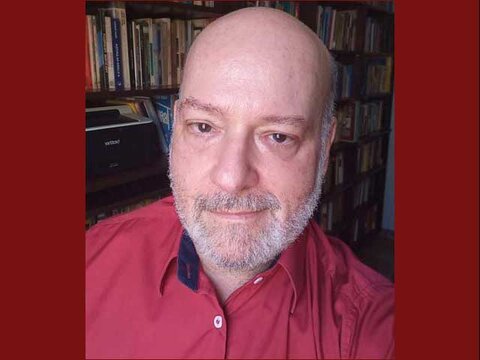
Capitalismo Digital - Mais valia onírica
É bem provável que muitas outras abordagens, em linhas diversas desta aqui, tenham adotado esse título ou assemelhado, a fim de esboçar essa p

Quando chega essa época, penso em algumas coisas:1. Aprendi quando criança que o espiritualismo tem o princípio de que não há pena perpétua: todos po

À Nita Freire - e ao professor das professoras e dos professores (1)
Hoje temos um motivo para festejar, com a esperança de quem muito almeja esperançar, agir para transformar[1].Hoje, homenageada, Ana Maria Araújo Fre

Em evento conjunto, o canal do Youtube A ciência da CF88 (https://www.youtube.com/c/ACi%C3%AAnciadaCF88) e o Núcleo de Formação de Professores (NFP)
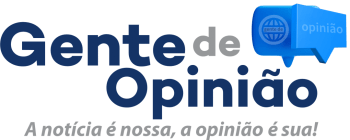 Sábado, 27 de dezembro de 2025 | Porto Velho (RO)
Sábado, 27 de dezembro de 2025 | Porto Velho (RO)