Domingo, 20 de abril de 2025 | Porto Velho (RO)
Segunda-feira, 23 de janeiro de 2023 - 17h21
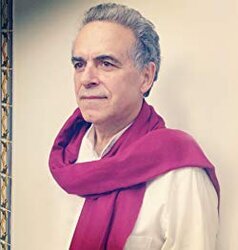
Internacionalmente a Alemanha não é livre de decidir, mas joga-se com o tempo nas costas dela
Os beligerantes não querem compreender porque é que o Chanceler Scholz continua a adiar a entrega dos tanques do Leopard 2 à Ucrânia. Isto não corresponde a uma atitude de "recusa", mas sim a um maior sentido de responsabilidade por parte da Alemanha e à sua situação de autonomia condicionada depois da segunda guerra mundial. Uma decisão por si só seria irresponsável para com a Alemanha e a Europa...
No seu próprio interesse, os EUA não consideram útil a entrega dos seus tanques "M1 Abrams". Porque deveria fazer sentido para a Alemanha e para a Europa?...
Também
uma Alemanha/Europa que segue a linha UE/NATO, ou seja, os EUA,
continuará inibida, dado que o eixo básico da OTAN é agora
Washington-Londres-Varsóvia-
Ridicularizar uma nação como a Rússia (com tantos elos de interesse no mundo) como pobre e isolada é apenas o sonho da propaganda ocidental para manter a crença nas pessoas de que a Rússia pode ser derrotada. A única forma não é através de armas, mas sim através do uso de diplomatas....
A Europa ainda não parece ter compreendido que já se inicia uma nova ordem mundial com base na multipolaridade e, em vez de ser guiada por esta realidade, continua agarrada à velha ideia de domínio global pelo Ocidente...
E mesmo os meios de comunicação social alemães/europeus (especialmente os noticiários televisivos) dão unanimemente a impressão de que estão a preparar imprudentemente uma catástrofe mundial...
A Alemanha não é livre de decidir internacionalmente por causa do Tratado 2+4! O resto é pó nos olhos dos espectadores...
A Europa deve preocupar-se em criar o seu próprio lugar pacífico num mundo multipolar.
António CD Justo
Texto completo e comentários em Pegadas do Tempo, https://antonio-justo.eu/?p=
COLOCO AQUI UM ARTIGO QUE AJUDA A TER-SE MAIS PROPRIEDADE DE TERMO
Perceber a História
Fascismo ou autoritarismo nacionalista?
O historiador Rui Ramos, no Observador. Janeiro de 2023:
Depois da pergunta sobre a duração do regime, a segunda questão mais frequente sobre o salazarismo diz respeito à relação com duas ditaduras europeias que foram suas contemporâneas na década de 1930: a fascista de Benito Mussolini na Itália e a nacional-socialista de Adolf Hitler na Alemanha.
Essas ditaduras foram derrotadas e destruídas na Segunda Guerra Mundial (1939-1945) por uma aliança entre as democracias ocidentais e a ditadura comunista russa. Desde cedo, que a oposição de esquerda em Portugal acusou o Estado Novo de ser um regime “fascista”. Não resultava de uma tentativa de descrever o regime, mas de uma vontade de o comprometer. Os oposicionistas esperaram assim, nos anos a seguir a 1945, identificar os salazaristas com uma causa desacreditada pela derrota e pela revelação das suas atrocidades, e sujeitá-los à desaprovação dos vencedores da guerra.
Foi o salazarismo simplesmente o “fascismo português”? A questão é complicada por várias razões. Primeiro, pelo hábito comunista de usar “fascismo” para definir indiscriminadamente qualquer regime ou movimento político não-comunista, incluindo, por exemplo, a social-democracia alemã. Segundo, pelo sentido fortemente pejorativo que o termo adquiriu, de modo que qualquer função descritiva está perdida numa função meramente acusatória e ofensiva. Por isso, há quem prefira formas menos carregadas, como, por exemplo, “autoritarismo”, para falar do salazarismo.
Mas há uma outra razão para a dificuldade de definir o salazarismo. Salazar esteve quarenta anos no governo. Para durar, num século de grandes sobressaltos e deslocações súbitas e num país em mudança, teve de fazer e dizer coisas diferentes em diferentes momentos. Nunca se esforçou, aliás, por arranjar grandes justificações teóricas para tudo o que fez. Por exemplo, perante o proteccionismo alfandegário a que foi obrigado na década de 1930, observou: “eu nunca julguei ter de recorrer a medidas como certas que tenho adoptado ultimamente e que reconheço sem valor económico e quase disparatadas”.
É por isso sempre arriscado usar uma citação de Salazar para o marcar politicamente: muito provavelmente, será possível encontrar outra num sentido contrário. No entanto, Salazar referiu-se frequentemente a uma “doutrina”, que definiria o Estado Novo. Vale a pena tentar examinar essa “doutrina”, sem cair no erro de tentar sistematizá-la numa filosofia, em mais um “ismo”, como o liberalismo ou o socialismo. O objectivo deve ser outro: perceber o seu papel no regime, e, por esse meio, o significado político do salazarismo, que não é a mesma coisa que a descrição da sua maneira de funcionar.
Na década de 1930, num mundo desestabilizado pela Grande Depressão e por potências como a Alemanha nazi, a Itália fascista, a Rússia comunista ou um Japão militarizado e expansionista, muita gente acreditou que o mundo do liberalismo do século XIX, com os seus parlamentos e eleições disputadas por vários partidos políticos, acabara de vez. Em 1940-1941, nas suas lições na Faculdade de Direito de Lisboa, Marcello Caetano identificou o Estado Novo como o fim do liberalismo: “embora ainda vigorem muitas leis e persistam muitas instituições do sistema individualista, está-se em pleno período de reforma no sentido da elaboração de um direito social e autoritário”.
O futuro era o autoritarismo, para uns com aspecto fascista, para outros com aspecto comunista. Ao longo dessa década, Salazar deixou o Estado Novo lembrar o regime fascista italiano, com milícias, saudações romanas e uma retórica “revolucionária”. “Liberalismo” e “democracia” eram quase sempre referidas como coisas passadas.
Mas mesmo nesta época, Salazar teve o cuidado de contrastar a “doutrina” do regime, não apenas com o liberalismo, mas com o totalitarismo. Em 1932, explicou a António Ferro: “a nossa ditadura aproxima-se, evidentemente, da ditadura fascista no reforço da autoridade, na guerra declarada a certos princípios da democracia, no seu carácter acentuadamente nacionalista, nas suas preocupações de ordem social”.
Mas, por outro lado, “afasta-se nos seus processos de renovação. A ditadura fascista tende para um cesarismo pagão, para um estado novo que não conhece limitações de ordem jurídica ou moral, que marcha para o seu fim sem encontrar embaraços nem obstáculos”. O Estado Novo não seria assim: “A violência, processo directo e constante da ditadura fascista, não é aplicável, por exemplo, ao nosso meio, não se adapta à brandura dos nossos costumes”. Repetidamente, apresentou-se como alguém que “proclama e aceita que o Estado é limitado pela moral e pelo direito”. Os limites do poder político, segundo Salazar, estavam na revelação divina (o catolicismo), na natureza humana (descrita pela história e pelas ciências sociais) e num modo de actuar ordenado, legalista (segundo a tradição jurídica do Estado de Direito). O poder político teria de respeitar esses limites, sob pena de ser ao mesmo tempo eticamente reprovável e politicamente ineficaz.
Na prática, foi Salazar quem destruiu o principal movimento de tipo fascista em Portugal, o Nacional-Sindicalismo liderado por Francisco Rolão Preto em 1932-1934. A expansão do Nacional-Sindicalismo prova que havia espaço para um fascismo em Portugal. Em privado, Salazar tratou a dinâmica fascista de que saiu a Legião Portuguesa, em 1936, como um efeito do “snobismo da época”: “copia-se bastante, pensa-se menos”. Certamente, porque o projecto nacional-sindicalista de dominar o espaço público era um desafio ao seu poder e porque a Legião Portuguesa, que Salazar submeteu ao exército, podia desequilibrar o regime.
Mas também porque o salazarismo rejeitava aquilo que era fundamental no fascismo – e que não era apenas a ditadura, mas um movimento político que visava, como escreveu Hannah Arendt, eliminar a esfera privada (“diluir totalmente o privado no público”) e reduzir o Estado a uma simples “fachada externa”, destinada apenas a “representar o país no mundo não-totalitário”. Como notou Robert Paxton o que distingue os autoritarismos nacionalistas dos fascismos: os primeiros assentam sobretudo em “corpos intermédios” como igrejas, notáveis, associações, a administração, as forças armadas para controlar, e portanto aceitam esferas de regulação autónoma, e os segundos num movimento político de mobilização que domina a esfera pública e elimina outras esferas autónomas ou privadas. O seu controle no primeiro é de desmobilização e conformismo, o segundo é de mobilização e adesão.
Por isso, os historiadores fora de Portugal nunca tiveram dificuldade em reconhecer que nos anos 1930 o “conservadorismo autoritário” de Salazar, segundo Ian Kershaw, “oferecia o mais acentuado contraste” com as ditaduras totalitárias europeias. Como seria de esperar, nunca no Estado Novo o “tu” da camaradagem fascista substituiu o “V. Exa.”, nem a saudação romana, ocasionalmente usada na Legião Portuguesa e na Mocidade Portuguesa, o aperto de mão. Tratava-se de viver “habitualmente”, e não “perigosamente”, como queria Mussolini.
Sem dúvida que faz sentido estudar o salazarismo em relação ao fascismo dos anos 1920 e 1930. Mas não faz sentido reduzi-lo a isso. O fascismo não foi a única fórmula de autoritarismo, nem sequer a mais bem sucedida (nenhum movimento fascista tomou o poder fora de Itália e da Alemanha). O mesmo se poderá dizer do comunismo, que não se instalou em mais nenhum país fora da Rússia até 1945. A cultura política ocidental das décadas de 1920 e de 1930, quando Salazar afirmou o seu poder, tinha outras fontes de autoritarismo.
Após a I Guerra Mundial, nos anos 1920 e 1930, a política dos países industrializados foi invadida pelo culto dos “chefes”, protótipos da “liderança” e da “eficácia”. Isso aconteceu nas ditaduras de tipo fascista ou comunista, mas também nas democracias liberais, onde o presidente norte-americano Roosevelt e depois o primeiro-ministro britânico Churchill se tornaram vias para estruturar a vida pública em função de um líder a quem era reconhecida uma autoridade especial, para além da que lhe vinha por via legal. A origem deste culto esteve no impacto da guerra e na influência crescente da empresa industrial e de serviços como modelo de organização.
O “chefe” foi uma forma de salvaguardar a autoridade e a hierarquia, através de novas formas e técnicas de comando, numa época de igualitarismo, em que desaparecera a aristocracia tradicional. Na liturgia do Estado Novo, Salazar era tratado como o “chefe”.
Mas era um “chefe” que os seus admiradores contrastavam ostensivamente com chefes como Mussolini: de um lado, estava um Salazar reservado, polido e professoral; do outro lado, um Mussolini exuberante, plebeu e militar.
Mais importante do que isso, na época, foi o facto de o Portugal de Salazar se ter mantido um “aliado fiel” da maior democracia liberal europeia, a Grã-Bretanha. Durante a II Guerra Mundial, Salazar não perdeu a cabeça, como teria sido fácil (aconteceu ao seu embaixador em Londres, Armindo Monteiro), e aproveitou o facto de os beligerantes terem acabado por deixar a península fora da guerra para servir ambos os lados, com lucro, ao mesmo tempo que acolhia cerca de meio milhão de refugiados.
Em 1939, no começo da guerra, a imprensa do regime aproveitou para estranhar as “anexações imperialistas” e a “mística racista” da Alemanha de Hitler. Em 1943, quando a guerra virou, Salazar concedeu bases aos Aliados nos Açores. Em 1945, com a vitória das democracias ocidentais, aliadas à União Soviética, Salazar enalteceu o auxílio que prestara à causa anglo-americana, reviu leis, fez logo novas eleições, e começou a falar de “democracia”, embora “orgânica”.
A oposição denunciou as “reformas demagógicas” com que Salazar se preparava para convencer as Nações Unidas de que “em Portugal não há fascismo”. A imprensa comunista clandestina passou a tratar todos os ministros como “fascista nazi”. Mas em Outubro de 1945, na reunião do Centro Almirante Reis, os oposicionistas reconheceram, a propósito da lei eleitoral de 23 de Setembro, que “a alteração de princípios que encerra é profunda”: ainda não era a democracia, mas o regime, que até aí se dissera “anti-liberal e anti-democrático”, estava a ceder às “ideias democráticas”.
Durante alguns anos, entre 1945 e 1947, o Estado Novo até se esforçou por criar “muita distância” em relação à ditadura do general Franco em Espanha, ao mesmo tempo que, significativamente, o regime espanhol se procurava modelar segundo o português – o que significou reduzir os elementos mais fascistas. Em Junho de 1946, no Brasil, o embaixador Pedro Theotónio Pereira podia garantir à imprensa que Portugal tinha um regime “anti-totalitário”, era até uma “democracia”, onde os cidadãos podiam ter opiniões diferentes, onde havia imprensa da oposição, e embora não houvesse partidos políticos, por uma questão de estabilidade, não era verdade que estivessem proibidos.
Ao mesmo tempo, porém, escrevia a Salazar a dar o exemplo do Brasil como a falência da democracia, com o governo e os partidos divididos, e incapazes por isso de resistir ao comunismo. De facto, Salazar nunca pensou recorrer à população em pé de igualdade com os seus adversários. Nem ele, quando prometia “eleições livres”, nem as oposições, quando as exigiam, estavam de boa fé. Na realidade, era pela força que Salazar esperava manter-se no poder, e era pela força que as oposições planeavam tirá-lo de lá. Como explicou em Fevereiro de 1946, a exigência de liberdade pela oposição de esquerda parecia-lhe um truque de guerra: “sabemos bem que a exigem para vencer e a dispensam para governar”.
Provavelmente, Salazar não acreditava nem na vontade da oposição para respeitar a legalidade, nem na capacidade dos salazaristas para predominarem sem coerção. Por isso, para Salazar se manter no poder, mais decisivas do que as eleições, foram as derrotas das conspirações militares conhecidas por golpe da Mealhada (1946) e Abrilada (1947). A ditadura evitou assim um golpe militar como o que derrubou Getúlio Vargas no Brasil em 1945, para instituir uma democracia limitada e conservadora e sob tutela militar. Em Espanha, Franco aguentou, o que poupou Salazar à pressão de uma vizinhança democrática.
Rui Ramos é historiador, professor universitário.
 Domingo, 20 de abril de 2025 | Porto Velho (RO)
Domingo, 20 de abril de 2025 | Porto Velho (RO)
Guedes deixa PSDB após perder espaço
O Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) em Rondônia perdeu uma de suas principais lideranças políticas. Após décadas empunhando a bandeira

Criado em de novembro de 1890, através do Decreto 966-A, por iniciativa do então ministro da Fazenda Rui Barbosa, o Egrégio Tribunal de Contas da Un

Existe uma atividade humana, entre outras, que muito admiro e respeito. Trata-se do trabalho voluntário. Não importa a área de atuação. Pode ser na

Como não falar bem de um paraíso como esse? Rondônia é talvez o único Estado do Brasil com o maior índice de desenvolvimento e de progresso desde se
 Domingo, 20 de abril de 2025 | Porto Velho (RO)
Domingo, 20 de abril de 2025 | Porto Velho (RO)