A epidemia de meningite começou no Brasil, na metade dos anos 1970, por uma violenta irrupção em São Paulo. Dezenas de mortes diárias criaram um clima de pânico na cidade, uma das maiores do mundo. O medo se alimentou da filtragem das notícias que escaparam à censura política da ditadura militar, que teve um comportamento genocida nessa história.
A bactéria acabou vencendo a repressão e o governo teve que desencadear uma campanha de vacinação em massa de urgência por todo país para conter a expansão da doença. A emergência impôs um grande risco: a vacina - de fabricação francesa - nem fora testada em humanos. Mas deu certo.
O efeito positivo dessa epidemia foi a revelação, para os paulistanos de nascimento ou de adoção, do outro lado, desconhecido e chocante, da cidade rica, cujo orçamento só é inferior ao da União: a sua pobreza, nordestina não apenas quantitativamente, mas porque vivida por imigrantes nordestinos em sua maioria.
Era uma vasta população - invisível, excluída socialmente e perseguida. Ela se materializou em um inquérito que a arquidiocese, comandada por dom Paulo Evaristo Arns, patrocinou, executada pelo Cebrap, do sociólogo Fernando Henrique Cardoso.
A pandemia do coronavírus pode dar a mesma contribuição. A periferia de hoje é a mesma dos anos 1970 - ou pior, agravada pelo abandono, desprezo e maus tratos que se mantiveram e se acumularam desde então. O medo da nova doença, porém, colocou os refletores da mídia nesses infernos urbanos. Felizmente, a própria população desses espaços do caos está reagindo, tomando iniciativa e buscando formas de escapar ao contágio ou mesmo de proteger melhor suas vidas. Mas precisa da solidariedade dos que estão no topo da pirâmide - e por isso, com maior poder decisório.
Os países que se saíram melhor no combate à pandemia não esperaram que suas vítimas chegassem à rede hospitalar ou ambulatorial. Foram atrás dos doentes onde eles estavam, levando-lhes testes, remédios, meios de suportar as condições desfavoráveis. Foi essa capacidade de deslocamento que tanto fez a fama dos médicos (ou paramédicos) cubanos que vieram ao Brasil. É o que os distinguiu, em virtude das suas condições originais de trabalho, dos médicos sedentários locais, que constituem ainda a maioria do corpo técnico brasileiro.
O Estado tem que chegar aos subcidadãos. Não só o governo: a sociedade também - e sobretudo. Não apenas para, finalmente, impor uma política sólida, coerente e homogênea, sem a algaravia política e a cupidez corrupta dos dias atuais. Não só para enfrentar a covid-19, mas se estabelecer como uma estrutura de serviço a todos os cidadãos, sejam eles os mais distanciados e maltratados do país. O Estado como servidor público de verdade - e perene, não ocasional e paradoxal.
Uma entidade capaz de se antecipar às agressões aos direitos fundamentais da pessoa, de impor respeito aos criminosos e malfeitores, mais do que pelas armas bélicas, pela sua presença e constância, e pela sua competência. Para que não aconteçam fatos como o registrado ontem num bairro de Tomé-Açu. Quatro homens encapuzados invadiram uma residência atrás do dono da casa, que provavelmente já haviam baleado dias antes. Como ele não estava, deram quatro tiros de pistola na cabeça da sua esposa. Uma das balas atravessou o corpo da mulher, de 41 anos, e atingiu a cabeça do filho dela, matando-o também.
Qual o valor dessa vida para esses bandidos? Qual o valor dessa vida para aqueles que estão no alto do poder para representar e servir o povo que lhes destinou essa posição? Qual a diferença entre esses brutais domicílios diários e as mortes pela covid-19 na conta das suas vítimas diretas e indiretas?
Esse Brasil cruel, injusto, irracional e violento que somos obrigados a aturar, se manterá por quanto tempo assim?
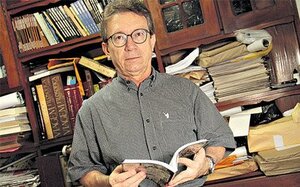
 Segunda-feira, 28 de abril de 2025 | Porto Velho (RO)
Segunda-feira, 28 de abril de 2025 | Porto Velho (RO)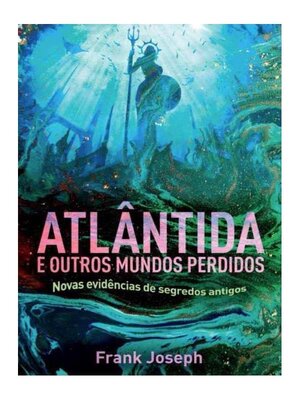

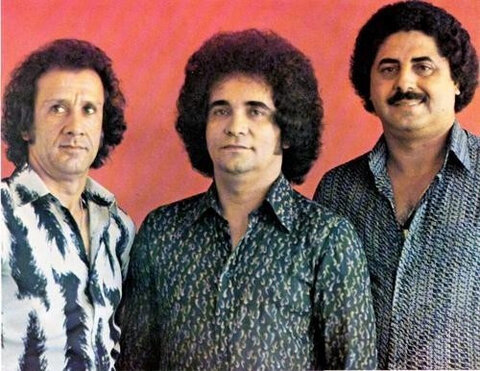

 Segunda-feira, 28 de abril de 2025 | Porto Velho (RO)
Segunda-feira, 28 de abril de 2025 | Porto Velho (RO)