Sábado, 26 de abril de 2025 | Porto Velho (RO)
Sexta-feira, 16 de fevereiro de 2018 - 18h01
Migração, núcleos coloniais e agricultura na Amazônia no auge do surto gumífero
Por Dante Ribeiro da Fonseca
Mesmo antes do apogeu do surto gumífero (também chamado I Ciclo da Borracha), reclamavam já os vários presidentes das províncias da crônica carência de braços para os trabalhos agrícolas e manufatureiros[1], segundo eles, causa da constante insuficiência da produção de alimentos na Amazônia. Desde o relatório do primeiro presidente da província do Amazonas (1852), o registro do abandono das atividades agropecuárias é também uma constante, o que fez reduzir a quase nada a produção agrícola na província[2].
A predominância do trabalhador de origem indígena, ainda naquele momento, a qual se atribuía uma inconstância característica, e a quase ausência de uma significativa população escrava de origem africana, compunha o quadro da mão-de-obra ocupada na província do Amazonas em 1869[3]. A possibilidade de promover a migração, para dar conta das tarefas agrícolas e pecuárias nas províncias do Amazonas e do Pará, era diminuta. A migração foi uma tentativa constantemente malsucedida. A maioria dos migrantes nordestinos, que passaram a afluir para o Amazonas de forma significante a partir de 1877, não se dedicou às atividades agropastoris, mas ao setor extrativo[4].
A resolução do problema de comunicação, entre os vários pontos do Amazonas, também dificultava a colonização. Por exemplo, a ligação por navegação à vapor, estrada de rodagem ou ferrovia, entre Boa Vista e Manaus, era vista como uma excelente medida para fundar colônias de migrantes naquela região, dada a fertilidade de seu solo e a riqueza de produtos naturais[5]. Da mesma forma como a estrada ligando o Ituxi ao Beni, o Beni ao Acre, e Manaus a Itacoatiara, viriam, segundo as previsões da época, facilitar o estabelecimento de migrantes em colônias agrícolas e pecuárias fundadas no entorno dessas vias de transporte. O sucesso dessas colônias, criadas e incentivadas pelo poder público, foi, com raras exceções, escasso.
No Pará registrava-se também, a existência de várias colônias agrícolas criadas pelo governo provincial, no intento de auxiliar na solução do problema do abastecimento regional. Situado a cinquenta quilômetros da capital, na estrada de Bragança, foi fundado um núcleo colonial em 1875, para ser ocupado por emigrantes estrangeiros. Começou a crescer, de fato, de 1877 em diante, com a chegada dos retirantes da seca nordestina, que elevou a doze mil habitantes em 1881[6].
O núcleo colonial de Benevides possuía, em 1880, uma população estimada em oito a nove mil pessoas, basicamente oriundos da seca nordestina. Essa população, cultivava seiscentos e sessenta e oito lotes, estando previsto para aquele ano a produção de seis mil e seiscentos alqueires de farinha, três vezes mais que a farinha produzida no ano anterior. Registra-se também naquele núcleo agrícola a existência de migrantes estrangeiros. Assim é que no relatório de 1881, acusava-se o retorno de inúmeros colonos para o Ceará, em virtude das abundantes chuvas ocorridas naquela província, mas congratulava-se pela permanência de outros colonos, especialmente os franceses, que haviam montando engenhos a vapor e fábricas de cachaça e açúcar. No ano de 1881 já estavam encomendados pelo menos três engenhos a vapor para operar naquela colônia, com a destinação de produzir aguardente e açúcar, até então produzidos “em não pouca quantidade” por engenhos movidos a tração animal[7]. O resultado desse retorno dos migrantes nordestinos, é acusado no relatório de 1884. A cinco quilômetros daquele núcleo situava-se o de Santa Izabel, também composto basicamente por emigrados nordestinos. A população das duas colônias, Santa Izabel e Benevides, totalizavam aproximadamente quatro mil almas naquele ano, o que representa significativa sangria de colonos desde 1880. Continuava, contudo, a fornecer para o mercado da capital muita cachaça e alguma quantidade de farinha, arroz, polvilho, madeira, aves, ovos e frutas[8].
Mencionam as fontes, dois outros núcleos coloniais, o de Tetugal e o de Santarém. Tetugal, que também cresceu muito com os retirantes nordestinos, chegando a totalizar quatro mil e trezentos habitantes, em 1884 contava com aproximadamente 300 que produziam mandioca, arroz, milho, feijão e batatas[9]. Bastante atacada pela malária, a população deste núcleo não oferecia em 1880 grande perspectiva de progresso. Supondo-se a intenção dos colonos em retornarem ao Ceará tão logo ocasião propícia surgisse. O núcleo de Santarém[10], foi fundado em 1878 a aproximadamente treze quilômetros de Santarém com duzentos e setenta e oito colonos, entretanto, evadiram-se muitos daqueles primeiros colonos, residindo ali, em 1880, apenas cem agricultores[11].
Em 1885 foi criada a Sociedade Paraense de Imigração, que pretendia estimular a migração europeia para o Pará, com o objetivo de animar a agricultura[12]. Em 1889 intensificou-se a chegada de imigrantes do nordeste, que, praticamente na indigência, foram encaminhados pelo governo provincial para várias atividades produtivas. Para alguns foram doadas passagens para deslocamento até a província do Amazonas, outros foram contratados para trabalhar na estrada de ferro de Bragança e o restante foi encaminhado às colônias agrícolas situadas ao longo daquela ferrovia. Assim, parte desses migrantes foi estabelecida nos núcleos de Benevides, Santa Izabel, Araripe e Apehú[13]. No relatório seguinte, noticia-se que a colocação desses retirantes não foi bem sucedida e o presidente da província pediu ao governo imperial recursos, para recambiar parte desses retirantes ao nordeste[14].
Em 1901, havia no Amazonas a colônia Pedro Borges, com seiscentos e trinta e cinco colonos que compunham cento e quatro famílias. A colônia Pedro Borges estava situada nas proximidades do lago Santo Antonio, a alguns quilômetros da margem direita do rio Urubu e a 1,5 quilômetros da margem esquerda do rio Amazonas[15]. No relatório daquele ano, o governador do estado reclamava dos injustificados gastos, em face dos parcos benefícios produzidos pelas colônias Campos Sales e Pedro Borges, embora indique sinais de prosperidade na última, dada a convergência da migração cearense, da qual se esperava alguma compensação[16]. Em 1901 existia na colônia Campos Sales 331 colonos. Situava-se próxima a capital do Amazonas. Em 1902 esta colônia enviou para o mercado de Manaus farinha de mandioca, aguardente, mel, arroz, frutas e caça. Na administração de Oliveira Machado foram fundadas as colônias de Santa Maria de Janauacá, 13 de maio e Oliveira Machado. Em 1902 essas colônias participavam no abastecimento de gêneros agrícolas de Manaus[17].
Aldeamentos indígenas e agricultura na Amazônia no auge do surto gumífero
Um outro recurso, utilizado para o abastecimento das novas regiões gumíferas, foi as roças plantadas por algumas missões indígenas. Por exemplo, existia em 1881, na embocadura do rio Machado (ou Ji-Paraná), afluente do rio Madeira, a missão de São Francisco, que abrigava quatrocentos indígenas. A produção dessa missão era de certa monta, pois justificava a presença constante de dois negociantes ali estabelecidos, que comerciavam com os artigos produzidos por aquela comunidade e faziam circular anualmente a quantia de quinze a dezesseis contos de réis, resultado da produção de um milhar de paneiros de farinha de mandioca, produção de óleo de copaíba e fabricação comercial de canoas e montarias. Vê-se então que no centro da zona gumífera uma comunidade indígena articulava-se dinamicamente ao setor exportador, produzindo para subsistência e comercialização, dentro da região, alimentos, e embarcações para o setor exportador. Além dessa, existia na província uma outra missão, no rio Ituxi, que foi fechada no mesmo ano em razão do pouco progresso apresentado e da falta de suficiente pessoal religioso. Foram os padres encaminhados á missão de São José do Maracajú e outras, situadas no rio Uaupés, de grande esperança para o governo, por ser aquele rio numerosamente povoado de nativos[18].
Essas missões dos rios Uaupés, Papuri e Tiquié somavam 3.377 indígenas distribuídos em nove aldeamentos (Tabela 6-02) com população variando entre 40, aldeamento de Conceição, e 730 nativos, São Jerônimo de Ipamoré, indivíduos dos grupos Tariana, Macu e Tucano, cuidados por missionários religiosos. Nos aldeamentos produzia-se gêneros de alimentação para a comercialização. Esses grupos que estavam inseridos no mundo gumífero representava, contudo, menos da metade dos grupos contatados pelos missionários naqueles rios, os restantes, indivíduos dos grupos Macu, Itumiri, Manioas, Carapanãs e Cureras, viviam isolados na selva onde eram, ocasionalmente, visitados pelos missionários.
|
Tabela 6-02: Província do Amazonas. Aldeamentos indígenas nos rios Uaupés, Papurí e Tiquié e grupos ocasionalmente visitados pelos missionários (1888). |
|
No. |
Nome dos Aldeamentos |
Nome do Rio |
Nação |
Almas |
% |
|
1 |
São Pedro Apóstolo |
Uaupés |
Tariana |
80 |
2,37 |
|
2 |
Conceição |
" |
" |
40 |
1,18 |
|
3 |
São Bernardino |
" |
" |
130 |
3,85 |
|
4 |
La Rapecumá |
" |
" |
70 |
2,07 |
|
5 |
São Miguel |
" |
" |
166 |
4,92 |
|
6 |
Umarí |
" |
" |
86 |
2,55 |
|
7 |
São Leonardo |
" |
" |
162 |
4,80 |
|
8 |
Santíssima Trindade |
" |
" |
86 |
2,55 |
|
9 |
Santa Lúcia |
Papurí |
Macu |
162 |
4,80 |
|
10 |
São Francisco Taraquá |
Uaupés |
Tariana |
318 |
9,42 |
|
11 |
São Jeronimo de Ipamoré |
" |
" |
730 |
21,62 |
|
12 |
Santo Antonio de Javarite |
" |
" |
404 |
11,96 |
|
13 |
Santa Isabel do Tucano |
Tiquié |
Tucano |
189 |
5,60 |
|
14 |
Santa Maria de Nazaré |
" |
" |
266 |
7,88 |
|
15 |
São José de Maracajú |
" |
" |
300 |
8,88 |
|
16 |
São Pedro de Alcântara |
" |
" |
188 |
5,57 |
|
Sub-total |
3377 |
47,24 |
|||
|
17 |
Grupos |
Papurí |
Macu |
669 |
17,74 |
|
18 |
ocasionalmente |
" |
Itumiri ou |
0,00 |
|
|
19 |
visitados |
Piratapuia |
324 |
8,59 |
|
|
20 |
pelos |
Queirarí |
Manioas |
900 |
23,87 |
|
21 |
missionários. |
Içana |
Carapanãs |
892 |
23,65 |
|
22 |
Caduiarí |
Cureras |
986 |
26,15 |
|
|
Sub-total |
3771 |
52,76 |
|||
|
Total |
7148 |
100,00 |
|
Fonte: Andrade, Joaquim Cardoso de. Presidente da província do Amazonas. Relatório de 5 de setembro de 1888, anexo 2. |
/
Os indígenas eram usados também em serviços públicos, quando necessário, dado o alto custo da escassa mão-de-obra. Assim é que, constatando o péssimo estado com que chegavam as reses compradas no baixo Amazonas, em função de seu transporte nos vapores, pretendeu o governo provincial abrir um campo em Manaus para a engorda dos animais, comprados pelo governo para diminuir o custo da carne verde na capital, antes do abate. Constatando o elevado custo da mão-de-obra apelou o presidente para o trabalho indígena. Primeiramente recrutou alguns nativos dos aldeamentos de Abacaxis e Canumã, sem resultado satisfatório. Depois negociou com os principais maués de Andirá e Uriaú conseguindo recrutar vinte nativos. Também na abertura da estrada do rio Branco foram utilizados como trabalhadores os indígenas dos rios Urariquera[19]. Vez por outra os indígenas faziam chegar ao governo reclamações contra os missionários encarregados de sua catequese[20].
As missões dos rios Uaupés e Tiquié foram quase todas fundadas entre os anos de 1880 e 1881 e estavam em 1888 em estado de abandono. Os indígenas daquelas missões, em número bastante considerável, ocupavam parte do ano trabalhando ora na atividade extrativa ora na agrícola. Segundo a estatística provincial do ano de 1888, os aldeamentos indígenas nos rios Uaupés, Papurí e Tiquié e mais os grupos ocasionalmente visitados pelos missionários nos rios Papurí, Queirarí, Içana e Caduiarí, continham uma população de sete mil cento e quarenta e oito pessoas. Desse total, uma pequena maioria (52,76%) não estava aldeada, e não há informações de sua inserção no mercado amazônico, o restante estava aldeado e aproximadamente metade desses indígenas trabalhava independentemente na coleta de borracha e piaçava. No rio Tiquié os indígenas ocupavam-se mais da agricultura e da produção de farinha de mandioca, mas respondiam eles por aproximadamente um terço da população aldeada naqueles rios. De qualquer modo a produção indígena naqueles rios era notável, atribuindo-se a ela o incremento da navegação à vapor, de tal modo que antes apenas uma embarcação da Companhia do Amazonas navegava o rio, de dois em dois meses, e no ano de 1888, um vapor daquela empresa fazia a linha mensal completada com viagens extraordinárias, além de lanchas rebocadoras fretadas por comerciantes[21].
No Pará existiam, em 1880, treze diretorias parciais de índios situadas nos rios Maracanã, Capim, Acará-mirim, Acará, Xingú, Vizeu, Pacajá, Alto Tocantins, Gurupí, Alto Tapajós, Baixo Tapajós e Tocantins (Quadro 6-01). Informava o presidente da província das muitas queixas recebidas contra os diretores dos índios. Registra-se que na missão do Bacabal, no alto Tapajós, o frade responsável, após ter sido demitido a bem do serviço público, retornou e vendeu os gêneros e mercadorias, como a borracha, depositados no armazém daquela missão[22]. Por vezes as reclamações incidiam sobre o comportamento dos índios aldeados. É o caso dos índios Amanagés, aldeados no rio Capim que em 1879 assassinaram a tripulação de uma canoa, composta de elementos do grupo Tembé[23].
No município de Acará havia, em 1884, um aldeamento denominado Miritipitanga habitado por cem indígenas Turiuára. Existia também um aldeamento no rio Acará-mirim dividido em três aldeias, uma formada por setenta e seis elementos do grupo Tembé, a outra do mesmo grupo e número de habitantes não sabido e o terceiro formado por setenta e um elementos do grupo Turiuá. Esses grupos produziam mandioca, arroz, milho, feijão, óleo de copaíba, madeiras e estopas. Com esses últimos itens fabricavam canoas. Toda essa produção, era trocada por tecidos, espingardas, ferragens, etc..
|
Quadro 6-01: Província do Pará. Diretorias de Índios (1880). |
|
No. |
Rio |
Diretoria |
|
1 |
Maracanã |
São Domingos da Boa Vista. |
|
2 |
Capim |
|
|
3 |
Capim |
Santa Leopoldina do Carandirúassú |
|
4 |
Acará-mirim |
|
|
5 |
Acará |
Miritipitanga |
|
6 |
Xingú |
|
|
7 |
Vizeu |
|
|
8 |
Pacajá |
Portel |
|
9 |
Alto Tocantins |
|
|
10 |
Gurupí |
|
|
11 |
Alto Tapajós |
|
|
12 |
Baixo Tapajós |
|
|
13 |
Tocantins |
Distrito de Baião |
|
Abreu, José Coelho da Gama e (Barão de Marajó). Presidente da província do Pará. Relatório de 15 de fevereiro de 1881, p. 79-80. |
Também registra-se a existência de um aldeamento denominado Maracanã, nas cachoeiras deste rio, a cento e onze quilômetros da vila de Cintra, dividido em duas aldeias com mais de cem indivíduos do grupo Tembé dedicados ao cultivo do feijão, tabaco, milho e mandioca. Seu contato mais imediato era com a freguesia de São Domingos por uma estrada de vinte e dois quilômetros a partir do igarapé Curanátena[24].
[1] Mattos, João Wilkens de. Presidente da Provincia do Amazonas. Relatório de 4 de abril de 1869, p. 56.
[2] “...e todos os mais productos d’agricultura e das outras fabricas se achão reduzidas a quase nada, ou de tudo aniquilados.” (Aranha, João Baptista de Figueiredo Tenreiro. Presidente provincia do Amazonas. Relatório de posse. 1852, p. 53).
[3]Mattos, João Wilkens de. Presidente da Provincia do Amazonas. Relatório de 4 de abril de 1869, p. 56.
[4] Dias, Satyro de Oliveira. Presidente da província do Amazonas. Fala de 4 de abril de 1881, p. 45.
[5] Ferreira, Fileto Pires. Governador do estado do Amazonas. Mensagem de 4 de março de 1897, p. 27.
[6] Baena, 1885, p. 27-8.
[7] Abreu, José Coelho da Gama e (Barão de Marajó). Presidente da província do Pará. Relatório de 15 de fevereiro de 1881.
[8] Baena, 1885, p. 28.
[9] Idem, p. 31.
[10] Nota do autor: não confundir o núcleo agrícola com a cidade de Santarém, fundada no período colonial (vide Tabela 1-001, anexos).
[11] Abreu, José Coelho da Gama e (Barão de Marajó). Presidente da província do Pará. Relatório de 15 de fevereiro de 1880, p. 28.
[12] Araripe, Tristão de Alencar. Presidente da província do Pará. Fala do dia 15 de novembro de 1885, p. 14.
[13] Pernambuco, Miguel José d'Almeida. Presidente da província do Pará. Relatório de 18 de março de 1889, p. 54.
[14]Braga, Antonio José Ferreira. Presidente da província do Pará. Relatório de 18 de setembro de 1889, pp. 19-20.
[15] Nery, Silvério José. Governador do estado do Amazonas. Mensagem de 10 de julho de 1901, p. 227.
[16] Nery, Silvério José. Governador do estado do Amazonas. Mensagem de 15 de janeiro de 1901. p. 15.
[17] Nery, Silvério José. Governador do estado do Amazonas. Mensagem de 10 de julho de 1902, p. 247.
[18] Dias, Satyro de Oliveira. Presidente da província do Amazonas. Fala de 4 de abril de 1881, pp. 38-9.
[19] Paranaguá, José Lustosa da Cunha. Presidente da província do Amazonas. Relatório de 25 de março de 1883, p. 86.
[20]Bueno, Francisco Antonio Pimenta. Presidente da província do Amazonas. Exposição de 21 de junho de 1888, p. 21.
[21] Andrade, Joaquim Cardoso de. Presidente da província do Amazonas. Relatório de 5 de setembro de 1888, anexo 13, p. 3.
[22] Abreu, José Coelho da Gama e (Barão de Marajó). Presidente da província do Pará. Relatório apresentado á Assembléa Legislativa Provincial em 15 de fevereiro de 1880, p. 80.
[23] Paranaguá, José Lustosa da Cunha. Presidente da província do Amazonas. Relatório de 25 de março de 1883, p. 80.
[24] Baena, 1885, p. 29.
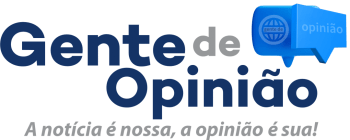 Sábado, 26 de abril de 2025 | Porto Velho (RO)
Sábado, 26 de abril de 2025 | Porto Velho (RO)
Castanha-do-pará ou castanha-do-brasil? Uma semente amazônica, muitas histórias e muitos nomes 1.
Pomposa como uma fidalga silvestre, abre o seu chapéu-de-sol verde por cima do nível ondulante e superior da floresta, indicando logo mesmo em zonas

O ensaio que segue foi elaborado para ser apresentado na cerimônia de abertura do Seminário Integrado de Ensino e Pesquisa e a Semana de História –

Nota introdutória: Catalina o pássaro de aço nos céus da Amazônia
Nesses tempos, quando a população de Rondônia se vê ameaçada pela suspensão de alguns voos e mudanças de rota das companhias aéreas que nos servem,

Todo boato tem um fundo de verdade: o Ponto Velho, o Porto do Velho e Porto Velho
O último artigo que publiquei aqui tratou da figura do “velho Pimentel”, um personagem que, apesar de seu caráter até agora mítico, parece estar ind
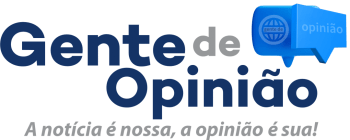 Sábado, 26 de abril de 2025 | Porto Velho (RO)
Sábado, 26 de abril de 2025 | Porto Velho (RO)