Sexta-feira, 25 de abril de 2025 | Porto Velho (RO)
Segunda-feira, 17 de março de 2025 - 11h38

Pomposa como uma
fidalga silvestre, abre o seu chapéu-de-sol verde por cima do nível ondulante e
superior da floresta, indicando logo mesmo em zonas baixas, que no seu pé
existe um terreno que não alaga nas maiores inundações. (MORAIS, 2013, p. 55).
Introdução
A
árvore cuja descrição poética transcrevemos acima é a castanheira. Possui
tronco que se destaca por seu porte altaneiro e esbelto, coroado por uma copa
espraiada cujo conjunto, como bem lembrou Raimundo Morais, lembra uma
sombrinha. Até poucas décadas atrás a semente desta árvore era identificada predominantemente
no Brasil com o nome de castanha-do-pará ou simplesmente castanha, apesar de
que desde sua descoberta pelos ibéricos foram-lhe atribuídas outras
denominações, resultantes de sua longa história no extrativismo vegetal.
Também
no estrangeiro, encontramos em alguns países esta castanha com a designação de Brazil nut. A tradução desta denominação
em língua portuguesa é castanha-do-brasil ou, às vezes, noz-do-brasil, embora
como no Brasil possua também no exterior diversos outros nomes. Em que pese esta
multiplicidade de designações, foi a tradução do nome em língua inglesa, a
saber: castanha-do-brasil, que ficou estabelecida oficialmente pelo governo
brasileiro nos anos de 1950, medida aplicada supomos em razão do comércio, já
que o inglês é língua de predominância comercial universal (SALOMÃO, 2014, p.
259). Esta decisão não considerou o fato de que próximo àquele ano, em 1942,
declarava um pesquisador: “A castanha no comércio brasileiro hoje é conhecida
como Para chestnut ou, traduzido, castanha do Pará ...” (Schreiber, 1942, p. 1)
Para
que o nome desta castanha não possa gerar confusões, pois existem vários nomes
para a mesma castanha e várias castanhas com outros nomes. Para que, enfim, não
restem dúvidas sobre qual espécie estamos falando, dentre a variedade de
castanheiras encontradas na Amazônia, a designação Brazil nut refere-se à mesma castanha-do-pará, conforme podemos
constatar na seguinte passagem: “Encontram-se na floresta o castanheiro, do
qual se obtém, para a exportação a noz do Brasil (castanha do Pará) [...]
(AKERS, 1913, p. 48). O nome traduzido do inglês tem sido crescentemente
adotado dentro do Brasil, principalmente nos meios comerciais, em detrimento do
nome mais tradicional anteriormente mencionado.
A
mudança, como era de se esperar, acirrou uma disputa já existente quanto ao
gentílico da semente. É do Brasil ou é do Pará? Adicionalmente, ao nível da
botânica questiona-se se a semente é uma castanha (grego = kástanon; e do latim = castânea)
ou uma noz? Questão que preferimos abandonar em razão do foco do trabalho.[1]
É
então mais recentemente que a adoção no Brasil da tradução para o português do
nome em inglês da semente tem despertado polêmicas a respeito da denominação
mais adequada a ser usada. É fato que castanha não é encontrada nativa em todos
os estados brasileiros e também que dela não se registra ocorrência apenas no
Pará, mas também em outros estados brasileiros que compõem a Amazônia legal.
Conforme
afirmava um investigador da Amazônia brasileira no início do século XX: “A
arvore da castanheira do Brasil (Bertholletia
excelsa) floresce abundantemente em todos os districtos visitados no
decurso da minha investigação sobre os recursos dessa vasta região.” (AKERS,
1913, p. 56). Em outras palavras, nas unidades políticas então existentes naquela
região: Amazonas, Pará e Acre. A maior parte das áreas onde ocorrem as
castanheiras ficam na Amazônia brasileira, com especial destaque para o baixo
Amazonas (Pará), nos rios Tocantins, Moju, Jari, Trombetas, Tapajós, Xingu.
Também ocorre no estado do Maranhão. No estado do Amazonas encontramos a
castanheira nos rios Amazonas, Madeira, Negro, Purus e afluentes. Também no
Estado do Acre nos rios Purus, Acre, laco e Abunã e no Mato Grosso no rio
Araguaia (NEVES, 1938 e MULLER; FIGUEIREDO; KATO, 1995, citados por PARDO,
2001, p. 4).
Também
é fato que a castanheira existe em outros países, que conosco compartilham a
Hileia Amazônica. De fato, a castanha-do-pará é encontrada em toda esta região natural,
não somente no Brasil, mas nas áreas do alto rio Orinoco (Venezuela) e alto rio
Beni (Bolívia), tendo suas ocorrências também, Colômbia e no Peru (NEVES, 1938
e MULLER; FIGUEIREDO; KATO, 1995, citados por PARDO, 2001, p. 4). Assim, a
semente não poderia ter a denominação do Brasil porque existe também em outros
países, e não poderia ser nomeada do Pará, porque ocorre também em outros
estados amazônicos. Alguns dizem que se chama “do Pará” porque anteriormente
toda a região Amazônica era o Pará ou Grão-Pará. Deixemos para depois o exame
desta questão.
O
que conduz este pequeno trabalho é investigar o que há de conhecimento sólido
nessas assertivas que autorizem a adoção de um ou outro nome, que seja mais
adequado sob o ponto de vista histórico e geográfico.
A castanheira, descrição
A
castanheira, como é tradicional e comumente denominada na Amazônia, produz um invólucro
resistente geralmente denominado ouriço.[2] Este é assemelhado ao coco
seco, porém inexiste nele a palha que envolve este último, assim como as
paredes são mais grossas e rugosas que aquele. É neste invólucro natural onde
estão depositadas suas sementes, em números variáveis de pouco mais ou menos dez
a vinte. É árvore típica de terra firme, ou seja, não ocorre em áreas alagadas
ou alagadiças e chega a alcançar 50 metros de altura. Suas árvores podem ser
encontradas dispersas nas florestas ou aglomeradas em manchões denominados castanhais.
Pertence
a árvore à família das Lecythidaceae,
seu nome científico é Bertholletia
excelsa H. B. K. (Humboldt, Bonpland e Kunth), atribuído pelo naturalista
alemão barão Humboldt (Friedrich Heinrich Alexander) depois da realização de
uma viagem de pesquisas pela América do Sul entre 1799 e 1804, onde conheceu a
árvore no alto Orinoco. O nome científico deriva de
uma homenagem ao químico francês Claude-Louis Berthollet (Bertholetia), combinado com a menção ao seu alto porte (excelsa). A classificação
botânica foi feita pelo alemão Carl Sigmund Kunth.
Os registros coloniais: o nome e o mercado da castanha
No
que tange ao primeiro registro da árvore pelo europeu, devemos esclarecer que sempre
é muito arriscado determinar a primícia de qualquer fenômeno. Normalmente em
História, quando falamos sobre a primeira vez de qualquer evento ou fenômeno, devemos
deixar claro que se trata apenas do primeiro registro que conhecemos sobre o
assunto, pois nunca poderemos ter certeza de que não haja outro registro
anterior. Assim é com a descoberta da castanheira pelos colonizadores europeus,
mormente em razão de que nem sempre as descrições encontradas nestes registros
permitem que concluamos, sem sombra de dúvida, tratar-se da árvore pesquisada.
De
todo modo neste, como em outros casos, repetem-se as máximas do epistemólogo
Karl Popper, na medida em que todo o conhecimento não é somente incompleto, mas
além disto, e também por isto, provisório. Embora cronistas e viajantes ibéricos
na América do Sul tenham registrado desde o século XVI a existência, naquele
continente, de árvores que produziam castanhas e nozes nas florestas da Amazônia,
nem sempre é possível dizer inequivocamente se estes frutos eram as sementes da
Bertholetia excelsa. Isto ocorria em
razão da descrição imprecisa, em alguns registros, das árvores encontradas e de
seus frutos. Também ausência de um nome comumente aceito entre os colonizadores,
espanhóis ou portugueses, para os frutos desta árvore contribuíam para as
dúvidas. Faremos então apenas breves menções aos primeiros registros de árvores
que produziam castanhas, intentando descobrir entre elas a Bertholetia. Outro alerta que devemos fazer é que estas menções são
apenas exploratórias e longe estão de esgotar toda ou mesmo grande parte das
fontes que podem trazer mais informações sobre o tema.
As
castanheiras iniciam a serem descobertas já nas primeiras décadas de exploração
da América do Sul pelos espanhóis. Em 1567 o conquistador Juan Álvarez
Maldonado partiu para a exploração do território colonial espanhol, passando
pela vertente dos Andes em direção à Amazônia. Desta viagem resultou a “Relación
de la jornada y descubrimiento del río Manu (hoy Madre de Dios)” (MALDONADO,
1899). Quando se encontrava o explorador nas proximidades daquele rio,
perguntou a um nativo sobre a existência de castanhais na área, pois os víveres
da expedição escasseavam. O nativo mostrou-lhe onde estavam os castanhais[3], permitindo-lhe então
constatar a enorme quantidade deles.[4] Transferiu então o explorador
a expedição para o local indicado pelo nativo e enviou um grupo para coletar as
castanhas.[5] É bem possível que estes
castanhais fossem compostos pela Bertholetia
excelsa, pois a área do rio Madre de Dios, sabemos, é rica em sua
ocorrência. Contudo, a inexistência na “Relación...” de uma descrição da planta
e de seus frutos faz duvidar da exata natureza daqueles castanhais. Ainda, é de
se notar que o fato de o conquistador supor a existência de castanhas
comestíveis na área que explorava revela já seu conhecimento do produto.
A
descrição mais precisa que encontramos, pois permite a identificação mais
segura do vegetal, está na obra do padre, José de Acosta (1540-1600), publicada
primeiramente em Sevilha no ano de 1590. Em seu escrito, o clérigo declara não
conhecer o nome da árvore que encontrou no Peru. Assim, deu aos seus frutos o
nome da região onde a encontrou: “almendras de Chachapoyas” ou seja: castanhas-de-chachapoias.[6] De fato, a descrição do
padre confere com as principais características da árvore: a grande altura de
seu tronco, sua copa espraiada e os ouriços que guardam as castanhas.[7] É, com o talvez que a
prudência torna inevitável, a primeira descrição e nome da castanha da Bertholetia excelsa.
Na
América Portuguesa encontramos o registro do frei Cristóvão de Lisboa sobre as
castanhas na sua obra “História dos animais e árvores do Maranhão”, escrito
entre 1625 e 1631.[8]
Também João Felipe Bettendorff (1625-1698) que chegou na Amazônia portuguesa em
1661 se refere ao produto como “castanhas-da-terra” (2010, p. 313) ou
simplesmente castanhas (2010, p. 34). Por exemplo, relata a existência dos
castanhais no rio Tocantins (2010, p. 29), área que do século XIX em diante
seria importante produtora das castanhas da Bertholetia
excelsa para a exportação. Também Mauricio de Heriarte, que escreveu em
1662 a obra “Descripção do estado do Maranhão, Pará, Corupá e Rio das Amazonas”
menciona existir a doze léguas de Curupá (Maranhão) o rio Paranaiba em área de
muita floresta onde se encontram as “[...] castanhas que se criam nos montes são
melhores que as nozes e amêndoas.” (HERIARTE, 1874, p. 33). Em outro momento, referindo-se
a uma área que inicia na boca do rio Negro e se estende por coisa de setenta
léguas pelo rio Amazonas acima, revela a abundância dos castanhais (HERIARTE,
1874, p. 47). Compreende-se o tardio dos relatos sobre a castanheira no Brasil,
em relação aos colonizadores espanhóis, se considerarmos que a Amazônia passou
a ser efetivamente colonizada pelos portugueses apenas a partir de 1616.
Consultando
a obra “A Amazônia na Era Pombalina” (MENDONÇA, 2005, 3 vols.), que é uma
compilação da correspondência do governador e capitão-general do Estado do
Grão-Pará e Maranhão, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, entre 1751 e 1759, encontramos
poucas vezes a palavra castanha e nenhum registro do nome castanha-do-pará, ou
qualquer outro que se refira especificamente à Bertholetia excelsa.
No
rol das exportações da Companhia Geral de Comércio do Grão-Pará e Maranhão,
extinta em 1775, não encontramos a menção ao produto (ALMEIDA, 2016, p. 7). A
exploração comercial do fruto, com destino ao mercado externo, na Amazônia
portuguesa data apenas do final século XVIII. Assim, esta exportação parece ter
sido, naqueles primeiros anos, bastante tímida. Um estudo publicado em 1915
revela que ano a ano, de 1773 até 1818 os principais produtos exportados do
Pará para Portugal foram: algodão, arroz, cacau e café (BARATA, 1915, pp. 3 –
10). Nesta estatística certamente estava também incluída a produção da
capitania do Rio Negro, subordinada ao Pará neste período. Destacamos então o
fato de que a castanha não é citada no estudo, em nenhum dos anos relacionados,
dentre os principais produtos de exportação do Pará, o que não significa que necessariamente
fosse um produto ausente da pauta de exportações daquela capitania. Situava-se
a castanha, naquele momento, possivelmente, no rol de uma variedade de produtos
secundários como: o cravo fino e grosso, a canela, a salsaparrilha, o urucu e
outros (BARATA, 1915, p. 10).
O consumo da castanha no Brasil
As
sementes oleaginosas que a Bertholetia excelsa
produz, são secularmente conhecidas e utilizadas como importante recurso
alimentar pelos habitantes da região amazônica, seu habitat nativo, desde antes da chegada do colonizador de origem
europeia.
Como
é fácil perceber nos registros até agora utilizados, a castanha foi empregada
desde o princípio da colonização como alimento para o europeu, o que de
imediato estimulou seu extrativismo para o consumo no mercado interno
amazônico. Assim é que no registro das viagens do ouvidor Sampaio pela
Amazônia, realizadas nos anos de 1774 e 1775, o produto aparece nas listagens
das coletas dos moradores da região (ALMEIDA, 2016, p. 8). Pela mesma época 171
alqueires de castanhas são relacionados entre os gêneros de colheita dos
moradores da Capitania de São José do Rio Negro (DIAS, 1970, p. 40). Tais
registros indicam que, como os nativos, a população colonial da Amazônia
continuou a consumir de diversas formas as castanhas-do-pará na sua
alimentação.
Mas
se o produto foi imediatamente adotado pelo colonizador ibérico na Amazônia, o
mesmo não aconteceu com o restante do Brasil. Dos dados fornecidos por Franz
Keller, a primeira evidência refere-se a ínfima exportação dos produtos
amazônicos para o restante do país, se comparada com os valores dispendidos
pelos principais países exportadores. Em 1869 países da Europa e os Estados
Unidos eram os principais importadores dos produtos do Pará, do total
comercializado naquele ano, participaram: os Estados Unidos (41,95%); a
Inglaterra (35,06%); a França (13,66%); Portugal (3,67%); a Alemanha (3,53%) e
as demais províncias brasileiras (2,15%). Os seis principais produtos
exportados naquele ano pelo Pará foram borracha (82,83%), cacau (10,96%), couro
cru (3,56%), cola de peixe (0,93%), óleo de copaíba (0,88%) e pele de veado
(0,85%).[9] Duas observações impõem-se:
a primeira é a quase absoluta superioridade da goma elástica, como produto de
exportação, e a segunda a ausência das castanha, dentre os principais produtos
da pauta de exportações naquele ano. Vê-se então que naquele ano, em relação
aos principais exportadores, a castanha era ainda um produto de menor
importância no Pará e que o consumo dos produtos da Amazônia pelo restante das
províncias era muito pequeno.
Por
outro lado, a ênfase na castanha como produto alimentício, quando tratamos do
seu consumo no mercado interno brasileiro, se dá em razão de sua utilização
nula como matéria-prima industrial, pois o processo de industrialização no
Brasil ainda não havia iniciado naquela altura. A própria menção ao produto
indica sua utilização para a culinária. Além de ser ingerida crua e assada,
pode se fazer dela doces e confeitos, leite e óleo, produzidos artesanalmente
na Amazônia do período para o consumo doméstico. Contrariamente, é bem
possível, que parte indeterminada da castanha exportada tivesse utilização
fabril: “[...] como perfumaria para amaciar o cabelo, e serve também para
fabrico de sabões duros, e para luz. (CBEU, 1867, p. 72).
Abrimos
aqui um parêntese para registrar que encontramos em alguns autores outra
utilidade produzida pela Bertholetia excelsa,
cuja menção é recorrente nas obras estudadas. A Commissão Brasileira na
Exposição Universal de 1867, registrou este produto: “Da arvore do castanheiro
tira-se estopa muito boa, que é empregada no calafeto das embarcações. Nas provincias
do Amazonas e Pará quasi não se emprega outra estopa para esse fim.” (CBEU,
1867, pp. 71-72). George Earl Church, concessionário da construção da Estrada
de Ferro Madeira-Mamoré, refere-se a estopa retirada da castanheira para
calafetar suas embarcações danificadas no rio Madeira[10], fica claro adiante que esta
castanheira é a Bertholetia excelsa (CHURCH,
1875, p. 31). O mesmo aconteceu com Keller.[11] Resta questionar sobre o
resultado do extrativismo deste produto da castanheira (a estopa) sobre a diminuição
do número de espécimes ao longo do tempo.
No
período da Independência (1822) observou-se o crescimento do sentimento
nativista no Brasil que, em diversos campos da cultura, buscava distinguir o
“nacional” do “português”. Buscava a personalidade própria da jovem nação, aí
incluída a alimentação, ou seja, produtos e receitas que subsidiassem uma
culinária identificada plenamente com a “Pindorama”. É necessário aqui
esclarecer que não se tratava de inventar uma culinária nacional, mas de
registrar e valorizar receitas desenvolvidas a partir de uma realidade própria
ao longo de mais de trezentos anos de colonização. Esses processos de busca
identitária, aplicados à alimentação tiveram, contudo impacto apenas regional. A
manifestação da elite Imperial tentava dar consequência ao complexo de
Policarpo Quaresma, já que a base da população praticava então cotidianamente esta
culinária.
Sendo
assim, é necessário investigar a penetração do produto nas demais regiões do
país durante o século XIX. Se levarmos em conta os dois mais conhecidos manuais
de culinária do Segundo Reinado, poderemos afirmar que apenas naquele período
aparecem em algumas receitas o item castanha-do-pará. Estas obras revelam um
pouco da lenta dinâmica de assimilação deste produto às receitas culinárias no
restante do território nacional.
Os
primeiros livros de culinária produzidos e publicados no Brasil foram
antecedidos por obras portuguesas. A “Arte de cozinha”, de Domingos Rodrigues,
publicado em 1680, é considerado o primeiro livro de culinária produzido em
Portugal, foi objeto de mais duas edições durante a vida do autor (1637-1719),
em 1683 e em 1698. No século seguinte teve ainda cinco edições em Portugal nos
anos de 1732, 1741, 1758, 1765 e 1794. O autor, mestre de Cozinha de Sua Majestade,
rei de Portugal, trabalhou para aquela casa real durante vários reinados,
tendo, ao lançar a primeira edição de seu livro, 29 anos de experiência como
cozinheiro.
O
segundo livro de culinária a ser produzido em Portugal foi publicado cem anos
depois da primeira edição da “Arte de cozinha”. Trata-se do “Cozinheiro
moderno, ou nova arte de cozinha, onde se ensina pelo methodo mais facil” de
Lucas Rigaud, que se declara “Hum dos chefes de cozinha de Suas Magestades
Fidelíssimas”, publicado em Lisboa no ano de 1780. Afirma o autor ao leitor da
obra que viajou por diversas cortes europeias no exercício do seu ofício, tendo
se animado a escrever a obra em razão dos erros encontrados na “Arte de
cozinha”.
Seja
como for, é fato que o livro de Domingos Rodrigues mereceu mais uma edição
portuguesa em 1821, a última, conforme declarado na obra. No entanto,
registra-se no Brasil uma edição posterior, lançada em 1838 e baseada na edição
de 1732 que os especialistas consideraram a mais completa.
Talvez
pela proximidade com a publicação da primeira obra de culinária produzida e
impressa no Brasil, o “Cozinheiro imperial”, cuja primeira edição é de 1840 (ANÔNIMO),
a “Arte de cozinha” não tenha merecido no Brasil outras edições. Talvez o
desejo de incorporar a estas obras as receitas nacionais tenha desestimulado
publicações de culinária em tudo portuguesas, estimulando a busca por aquelas também
mestiças, mas com outras matrizes. No “Cozinheiro imperial” não há maiores
indicações sobre os ingredientes utilizados nas receitas nele contidas. Em
inúmeras destas receitas há a indicação do uso de castanhas e amêndoas, sem
explicitar, contudo, seu tipo. Depois desta edição, foram feitas outras em
1843, 1852 e 1859, seguindo até a 10ª. edição, publicada em 1887 (R.C.M.).[12]
Na
advertência contida nesta última edição, o leitor é informado que uma ou duas
publicações sobre a arte culinária existentes no Brasil até então, não passavam
de compilações daquelas publicadas em Portugal. Como consequência as receitas,
o modo de seu preparo e os produtos nelas utilizados imitavam a cozinha
portuguesa. Sendo assim a obra se propõe a inovar apresentando: “As mais
modernas e exquisitas[13] receitas, para com
perfeição e delicadeza se prepararem differentes sopas e variadíssimos manjares
de carne de vacca, vitella, carneiro, porco e veado; de caris, vatapás,
carurús, angus, moquecas e diversos quitutes de gosto exquisito [...]” (R.C.M.).
Ao
cardápio desta nova edição foram então acrescentadas receitas de origem
africana ou indígena assimiladas pelo colonizador no Brasil como: vatapás, carurus,
angus, moquecas, inexistentes naquela edição de 1840. Também de ingredientes,
como o azeite de dendê, o quiabo que, embora africanos, passaram a fazer parte
das receitas brasileiras, compondo com artigos de proveniência europeia e
indígena uma culinária mestiça e nacional.
Tomemos
como exemplo a receita do “Bacalhau cozido à brasileira e à portuguesa”, sobre
a base do peixe de tradicional consumo ibérico cozinham-se os quiabos, maxixes,
jilós e bananas da terra. Apesar do esforço em adicionar à obra pratos e ingredientes
nacionais, o Pará e o Amazonas, assim como o Maranhão, não são prestigiados nesta
obra sequer com uma receita. Embora sejam enumeradas em muitas receitas as
castanhas, não se distingue de qual semente se trata e artigos alimentares como
o tucupi e o cuxá (ou vinagreira) estão ausentes, e logo suas receitas do
tacacá (Amazonas e Pará) e do arroz de cuxá (Maranhão), menos ainda dos pratos
das províncias do atual Centro-Oeste brasileiro. Assim, o esforço de integrar a
culinária nacional à obra reduz-se basicamente a atual região nordeste,
especialmente a Bahia.
Já o “Cozinheiro Nacional” (ANÔNIMO), foi obra que iniciou a ser publicada no final do século XIX, embora a edição que acessamos não apresente o ano de publicação. Dizia explicitamente em seu alvissareiro subtítulo: “Collecção das melhores receitas das cozinhas brasileira e européas”. Declara no seu prólogo, ao leitor porventura esperançoso de encontrar ali a culinária nacional, que: “Não iremos por certo copiar servilmente os livros de cozinha que pullulão nas livrarias estrangeiras [...]”, ao contrário, pretende apresentar em tudo a cozinha brasileira. Para tornar mais claro esta ambiciosa profissão de fé, completa ainda no prólogo:
“Nosso dever é outro; nosso fim tem mais alcance; e uma vez que demos o titulo “nacional” á nossa obra, julgamos ter contraido um compromisso solemne, qual o de apresentarmos uma cozinha em tudo Brazileira, isto é: indicarmos os meios por que se preparão no paiz [...] immensos vegetaes e raízes qne a natureza com mão liberal e pródiga, espontaneamente derramou sobre seu solo abençoado; [...] inteiramente differentes dos da Europa, em sabor, aspecto, fórma e virtude, e que por conseguinte exigem preparações peculiares, adubos e acepipes especiaes, [...] que são reclamados pela natureza, pelos costumes e occupações dos seus habitantes.”
Mas,
deste protocolo de boas intenções não resulta um vade mecum das receitas e produtos alimentícios nacionais.
Incompleta tentativa, do esforço resulta em apresentar-nos algumas receitas,
mas principalmente ingredientes utilizados fora da Corte Imperial brasileira e
seu entorno, como um estranho, aos amazônidas urbanos de hoje, jacotupé ou
jacatupé, que é receitado para a preparação de saladas, e também um nordestino
cuscuz (prato marroquino elaborado originalmente à base de trigo integral) cuja
adaptação conduziu ao uso da farinha de milho no seu preparo, ou seja, foi
adaptado ao produto nacional. Também no livro encontramos a receita de um
bacalhau à mineira, cujo único item nacional é a aguardente de cana (denominada
popularmente cachaça ou parati), onde se ferve o bacalhau.
Há
inclusive uma lista contendo algumas frutas, legumes e verduras e em uma coluna
ao lado seus sucedâneos nacionais. Por ela sabemos que o sucedâneo nacional
para as castanhas-sapucaias, castanhas-do-pará e mindubiranas é o pinhão, produto
da araucária ou pinheiro-do-Paraná (Araucaria
angustifolia), embora ambos (castanhas e pinhões) sejam em tudo
completamente diferentes na forma, textura, cor e sabor. Do mesmo modo informa
o substituto nacional para as amêndoas, nozes e avelãs europeias, são os
amendoins, também bem diferentes um dos outros. Apresenta-nos diversas as
receitas que contém a castanha-do-pará, mas ausenta-se a receita mais famosa
com este produto, o pirarucu no leite de castanha-do-pará. Aliás, também o
pirarucu seco, de farto consumo por todos os setores sociais da Amazônia no século
XIX, está ausente destas obras.
De qualquer modo nossa semente foi, por esta obra, inserida na culinária nacional, pelo menos na culinária das elites. E, de fato, esta edição do “Cozinheiro Nacional” deve ser posterior a 1850, pois que já cunha o nome castanha-do-pará. Assim, de um modo geral, para as obras analisadas vale a análise de Schwarcz:
O segredo era introduzir as receitas europeias, principalmente francesas e italianas, mas acrescentar a elas temperos brasileiros. Também para os nobres daqui a saída foi semelhante: um sistema europeu com o qual combinou-se um tempero brasileiro. “Mandioca brasileira, batata europeia; taroba brasileira, alcachofra europeia; bananas, maçãs; amendoim, sapucaias, castanhas-do-pará, mindubirana, brasileiros — amêndoas, nozes, avelãs europeias; jiló brasileiro, berinjela europeia”, assim se deu a lógica de substituição de ingredientes europeus por tropicais. (SCHWARZ, 1998, p. 320).
Bem,
dizem que de boas intenções há um lugar repleto. Contudo, devemos considerar
que o conhecimento do Brasil naquela época era ainda muito precário. Além disto,
o mercado interno iniciava a se desenvolver, assim como os investimentos em
ferrovias e empresas de navegação, que baratearam e aceleraram o processo de
circulação de mercadorias, que antes circulavam com maior custo e dificuldade. Esta
lentidão no processo de integração das várias regiões do país, criava problemas
para a elaboração de um manual de culinária que se constituísse minimamente como
expressão da riqueza e da variedade da cultura gastronômica nacional, expressa,
como ainda hoje, pelos sabores regionais, isto ainda levaria mais de cem anos.
Por
outro lado, é importante aqui acrescentar que a lógica da substituição dos
produtos importados pelos produtos nacionais, como vimos, conduzia á
constituição de um novo paladar, próprio e brasileiro, ou abrasileirado,
caracterizado principalmente pela profusão de misturas das mais diversas
origens, processo cuja incipiência esses manuais de culinária, com muito
esforço, conseguiram registrar. Essa dinâmica distinguia-se socialmente, sendo
uma na elite e outra no seio do povo e a diminuição do isolamento entre ambos
os setores da sociedade também levou tempo.
Assim,
é de se destacar, parecer evidente que o consumo das elites sociais era
dirigido, pelo menos em parte, por essas publicações, por corresponderem aos
requisitos de finesse, de bom gosto e
da novidade exigidos socialmente. Diferentemente das classes menos favorecidas,
preocupadas principalmente em saciar a fome, se possível com um alimento
saboroso e economicamente acessível. Há então um fenômeno contraditório, pratos
populares em uma região somente poderão ser consumidos por uma elite em outra,
dada a carestia que adquiriu ao serem transportados. Daí se deduz que a opção
por estas receitas não estava igualmente dada nas diversas classes sociais,
principalmente se levarmos em conta que este processo se dava no seio de uma
sociedade escravocrata.
O
consumo de alimentos de uma maneira geral estava limitado ao poder aquisitivo
do consumidor. Assim, a restrição ao uso de certos produtos culinários pelas
classes populares foi satisfeita por um amplo leque de frutos naturais
disponíveis à baixo custo na sua região de consumo. De fato, a mestiçagem
culinária foi inicialmente obra desses estratos da população: homens livres
pobres e escravos, cujas receitas os manuais procuraram captar e adaptar ao
gosto das elites. A massa de vatapá feita com fubá, substituído pela farinha de
trigo, é um exemplo desta dinâmica. De outro modo, para as classes de menor
poder aquisitivo restava a culinária regional, que melhor se adaptava aos
preços dos itens que compunham as receitas regionais. A castanha-do-pará, desde
que crescentemente demandada para o comércio exterior certamente não foi
incorporada ao cardápio da alimentação popular de nenhuma outra região do país
devido ao seu preço e raridade nestas regiões, exceto aquela de sua origem. Também
não seguiu o mesmo roteiro do café, cujas plantações iniciais no Grão-Pará no
século XVII, deram vez, após a popularização mundial do produto no século XIX,
ao Ciclo do Café, capitaneado pelas províncias do sul do país, Minas Gerais e
São Paulo. O café passou de um consumo restrito ao norte do Brasil no século
XVIII, à condição de uma bebida de consumo nacional, seguindo o percurso de
outra bebida consumida nacionalmente já naquele século XVIII, a aguardente de
cana.
A
castanha-do-pará foi, na Amazônia, produto de um extrativismo tanto de
subsistência quanto destinado aos mercados urbanos, até sua ascensão como
produto de exportação. Quanto ao seu consumo pelas elites sociais, foi limitado
o acesso ao produto e às poucas receitas disponíveis fora da atual região do
Norte do Brasil através dos manuais. No início do século XX surge um novo
manual, cujo título já sugere a origem das receitas: O cozinheiro popular ou
manual completíssimo da arte da cozinha[14], que teve sucessivas
edições até o ano de 1973.
O século XIX: os nomes da castanha
A
partir do final do século XVIII, embora timidamente, alguns tipos de castanhas
amazônicas passam a compor sua pauta de exportações há porém que se ponderar
que trata-se, em maior quantidade, da castanha objeto do presente estudo,
combinada, em menor escala, com outros tipos de castanhas. O nome de
castanha-do-pará, surge apenas no Segundo Reinado, mas o nome da castanha em
inglês foi cunhado no final do século XVIII, em razão da entrada das sementes
no mercado internacional. Já no final do século XVIII o registro do termo Brazil nut é encontrado em anúncio de
venda no jornal inglês Hampshire
Chronicle, de 16.04.1796 (ALMEIDA, 2015. p. 9). Mas, um rápido golpe de
vistas em obras de viajantes do século XIX, que tratam da Amazônia, jornais e
catálogos nacionais elaborados para as exposições internacionais, faz constatar
a notável ausência de uniformidade na denominação de nossa castanha, que repete
a diversidade de nomes utilizados no Brasil.
Spix
e Martius, que visitaram a Amazônia na segunda década do século XIX, referem-se
ao produto como castanha-do-maranhão, tanto aos frutos das árvores encontradas
no rio Madeira (vol. 3, 2017, p. 419), como aos mesmos do rio Negro (vol. 3, 2017,
p. 225). Na página 177 da mesma obra referem-se novamente às
castanhas-do-maranhão, pois informam a existência de um “[...] Vaso para fumo, dos mundurucus, de um fruto
imaturo de castanheiro (Bertholettia
excelsa).” Não era incomum este nome para os frutos da Bertholetia, pois o encontramos em vários relatórios de presidentes
de província: “Fructos que se pódem guardar por muito tempo: pinhão, amendoa da
Europa, amendoa de sapucaia, nóz, castanha do Maranhão, todas as qualidades de
côcos, amendoa de chica, &c.” (LISBOA, 1850, p. 8). Provavelmente este sim,
um nome mais antigo, derivado do extinto Estado do Maranhão e Grão-Pará
(1621-1751). O Maranhão nunca foi um grande produtor desta castanha, mas é bem
possível que ela tenha sido conhecida pelo europeu primeiramente ali. Reforça esta
suposição a seguinte passagem: “A castanha foi originalmente chamada de
castanha do Maranhão porque foi exportada inicialmente pelos portos daquele
estado.” (Schreiber, 1942, p. 1). É bom registrar que décadas antes da ocupação
francesa do Maranhão (1612), denominada França Equinocial, mercadores daquele
país já comercializavam produtos florestais com os nativos daquela área,
conforme declarou o chefe indígena Japi-açu: “[...] franceses que conosco
negociam há quarenta e tantos anos [...](D'ABBEVILLE, 1945, p. 63). Em que pese
o fato de no capítulo XXXVIII, que trata “Das cousas que se encontram comumente
na Ilha do Maranhão e circunvizinhanças e em primeiro lugar das árvores
frutíferas” (D'ABBEVILLE, 1945, p. 167), não haver mencionado vegetal que
lembre a castanheira, há ainda a possibilidade de neste comércio os franceses
terem conhecido o produto.
Além
de castanha-do-maranhão, outros nomes também são encontrados em periódicos
nacionais: “A Gazeta Official”, editada em Belém do Pará, em seu número 100, de
9 de setembro de 1858 anuncia a venda de quatro produtos, a castanha-da-terra e
a mesma em ouriços, castanha-de-andiroba e a castanha-de-sapucaia. A distinção
da castanha-da-terra e da mesma em ouriços, além do anuncio de venda da
castanha sapucaia e castanha-de-andiroba, permitem-nos concluir que se trata da
castanha-do-pará.
Se mencionada nas fontes apenas como castanha, e esta é a maior parte das menções que encontramos ao produto dentro da Amazônia, podemos distingui-la em razão de que, quando há outra castanha citada geralmente é a castanha-sapucaia. Este é o caso da Mensagem de 7 de setembro de 1922 do Governador do Pará ao Congresso Legislativo daquele estado. Naquela mensagem informa que foram exportados por aquela província em 1921 174.517 hectolitros de castanhas, dos quais alerta: “Nos hectolitros exportados da producção paraense estão incluidos 47 de castanha sapucaia.” (CASTRO, 1922, p. 23). A generalização de seu nome como castanha possivelmente se dá em razão de ser encontrada em maior quantidade, portanto concorrer com maior peso na exportação do produto na Amazônia. Outro aspecto que permite fácil identificação do produto é que o nome da castanha-sapucaia (Lecythis pisonis), apesar de ser o mais citado depois da castanha, não possui variação[15] nas fontes consultadas[16] e distingue-se da castanha, conforme abaixo:
“Castanha-sapucaia – (Lecythis paraensis) – Indivíduo botânico entroncado, vargeiro[17], de larga sombra, comum no baixo Amazonas. (...) O ouriço, cor de gesso-creme, que lhe guarda os frutos fusiformes em ambas as extremidades e pregueados ao comprido como se fossem encarquilhados em um tom claro, tem a forma de um cone truncado e não despenca ao ficar maduro, passando o ano no respectivo galho”. (MORAES, 2013, pp. 55-56)[18]
Por
outro lado, a castanheira-da-sapucaia cresce, contrariamente à
castanha-do-pará, em ambiente alagadiço, sua árvore é menor e seu ouriço têm o
formato cônico.
Entre
outros, Akers nos permite uma clara distinção entre os dois tipos de castanha
que eram comercializadas nos mesmos lotes, perceptíveis no subtítulo de seu
estudo: “Aspectos característicos do vale do alto do Amazonas com um breve
relatório sobre a producção das castanhas do Pará e da sapucaya” (AKERS, 1913,
p. 48). Os exploradores (melhor diríamos espiões) norte-americanos Herndon e
Gibbon apresentam em seus trabalhos maior uniformidade, denominam a castanha de
Brazil nut (GIBBON, 1854, pp. 233 e
280; HERNDON, 1854, pp. 245, 266). É Herndon ainda que na página 267 identifica
os nomes de Brazil nut e
castanha-do-maranhão como um mesmo fruto. Oito anos após a publicação de
Herndon alertou o presidente da província do Amazonas para a impropriedade desta
última denominação, segundo ele utilizada nas províncias do sul do Brasil
(CUNHA, 1862, p. 5), não explica, porém, a razão da sua objeção, mas é
permissível suspeitar que se dá em razão do nome castanha-do-pará já ser usado
naquele início dos anos de 1860.
Apesar desta suspeita, em outras fontes nacionais como o “Catalogo Official da Exposição Internacional do Porto em 1865”, não há qualquer menção ao produto. Interessante notar que em obra publicada em 1866, dedicada à exposição de 1867 há uma parte sobre oleaginosas, mas não cita a castanha-do-pará (NETTO, 1866). Contudo, em outra obra, também dedicada a esta última exposição, intitulada “O Império do Brazil na Exposição Universal de 1867 em Paris” podemos ler:
Castanhas do Pará. Semente do fructo da arvore vulgarmente conhecida com o nome de castanheiro. É preparada para ser levada ao mercado quebrando o ouriço, que ordinariamente contém 12 a 25 castanhas, as quaes sem mais processo algum são ensacadas e oferecidas a granel. (CBEU, 1867, p. 71).
Em
que pese a afirmação de que o nome castanha-do-maranhão: “[...] foi abandonado
pouco depois de 1850 [...]”, tendo adquirido predominância o nome
castanha-do-pará (Schreiber, 1942, p. 1), é o primeiro registro deste nome que
encontramos em nossa pesquisa. Novamente aqui socorremo-nos da força do hábito
para explicar o fenômeno, pois o simples nome de castanha continuaria a ser
usado ainda por muito tempo. Assim, nas publicações oficiais relativas às
exposições internacionais de 1873 na Áustria (IMPÉRIO do BRAZIL, 1873) e 1876
na Filadélfia (CREBPIE, 1876), não há menções específicas à castanha-do-pará,
embora no segundo evento a comissão da Província do Pará tenha exposto diversos
tipos de castanhas e, certamente, entre elas o fruto do castanheiro.
Na
obra de Church encontramos uma referência importante, pois permite-nos
suspeitar da popularização da vinculação da castanha ao Pará. Refere-se à
castanha (chesnut), como a mesma Pará nut, frutos da Bertholetia excelsa [sic] (CHURCH, 1875, p. 50). Isto significa que
o nome castanha-do-pará (Para nut)
era também utilizado nos países de língua inglesa naqueles anos de 1870. Mais
adiante se refere à castanha como Brazil
nut (CHURCH, 1875, pp. 145, 154), ou simplesmente castanha (chesnut) (CHURCH, 1875, p. 154, 177),
referindo-se indistintamente ao mesmo produto. Franz Keller, que viajou pelo
rio Madeira nos anos de 1860, também nomina a semente como Para nut (KELLER, 1875, p. 33), depois Brazil nut (KELLER, 1875, pp. 71; 117), identificando-as
inequivocamente como fruto da Bertholetia
excelsa (KELLER, 1875, p. 122). A utilização do nome Pará nut por estes dois autores revela que já na segunda metade do
século XIX não era estranho aos estrangeiros a associação da castanha à
província do Pará. Porém, já avançado o século XIX continuamos a ver nos
jornais de 1880 a referência à castanha-da-terra, vendida ainda a granel e
também em ouriço.
Na
primeira edição de sua obra “Le pays des Amazones, l’El-dorado, les terres a
Caoutchouc”, publicada em Paris em 1885, Frederico José de Santa-Anna Nery
denominou a castanha-do-pará como as castanha ou noz do Brasil (Les châtaignes
ou noix du Brésil), afirmando ser este produto a maior exportação da Amazônia
após a goma elástica.[19] Com o passar do tempo o
nome de castanha-do-pará, vai se tornando mais constante nas fontes. O próprio Santa-Anna
Nery lança quatro anos depois, na mesma cidade da obra anterior, o livro “Le
Brésil en 1889”, onde denomina castanhas-do-pará, aos frutos da Bertholetia excelsa (p. 218). Devemos
destacar que na edição francesa de “Le pays des Amazones...” o autor adota o
nome noz ou castanha-do-brasil (SANTA-ANNA NERY, 2018, p. 202), reproduzindo o
nome dado pelos ingleses à semente no século XVIII. Na tradução desta obra para
o português, realizada por Ana Mazur Spira a semente é denominada
castanha-do-pará. Esta foi a opção mais evidente para a tradutora, talvez por
desconhecer a sutileza do arcabouço histórico por detrás das duas denominações.
Para
a Exposição Universal de Saint Louis, realizada em 1904 nos Estados Unidos,
foram enviados produtos do estado do Amazonas, no catálogo respectivo podemos
observar a castanha-do-amazonas a granel, ou seja, fora do ouriço e a
castanha-da-sapucaia em ouriços (RAMOS;
CUNHA JÚNIOR (org.), 1904, p. 21). Certamente, o fato de o catálogo ter sido
elaborado no estado do Amazonas influenciou a adoção deste nome para os frutos
da Bertholetia.
Em
uma tabela contendo os principais produtos de exportação do Brasil, cuja
primeira publicação é datada de 1908, encontramos a castanha denominada como
castanha-do-pará (CIB, 1986, p. 291). Mas o hábito de se referir ao produto
como apenas castanha estava ainda bem arraigado, pois em 1920 na Mensagens do
Governador do Pará para a Assembleia a denomina apenas castanha, largamente
produzida na região, ao fruto da Bertholetia
excelsa. Na obra “O Brasil Economico em 1920 – 1921” (DQEIBOPT, 1922), dos
produtos apresentados à exposição realizada em Londres em junho de 1921, é
definido o fruto da Bertholetia excelsa
como possuindo o nome vulgar de castanha-do-pará. Em obra para outra exposição
encontramos que: “Além desses e de muitos outros, desnecessário era dizel-o, os
visitantes não podiam deixar de notar o mostruário de uma coisa que faltou
durante a guerra — as castanhas do Pará.” (DQEIBOPT, 1922, p. 43). Na maioria
das fontes, porém, jornais, revistas, relatórios oficiais, dentro e fora da Amazônia,
os frutos da Bertholetia eram
denominados simplesmente como castanha, este costume avançou até meados do
século XX.
Queremos
dizer com isto que a denominação castanha-do-pará é encontrada nas fontes
impressas apenas eventualmente neste período. Por exemplo, Raymundo Moraes
(1872 —1941) em “O meu dicionário de cousas da Amazônia”, obra cuja primeira
edição é de 1931, refere-se à castanha-do-pará em suas duas formas. No texto,
Moraes utiliza a denominação que, tudo indica, naquele momento parecia ser a
mais comum: “[...] recorta-se no tom verde-glauco a muralha de colinas povoadas
de castanha (Bertholletia excelsa)”
(MORAES, 2013, p. 28), como o outro nome, “castanha-do-pará – (Bertholletia excelsa)” (MORAES, 2013, p.
55).
Vemos
então, com base no material empírico estudado, que o nome castanha-do-pará é
acusado nas fontes pesquisadas apenas na segunda metade do século XIX e está
consolidado já na terceira década do século XX. Continua, entretanto, a
conviver com outras denominações da semente.
O século XIX, incremento da produção
Nesta
parte do estudo utilizarei quantidades e valores de produção exportação e recolhimento
fiscal dos principais produtos amazônicos e especialmente da castanha. A
utilização destes dados quantitativos tem o objetivo apenas de ilustrar o
crescimento da produção à luz do mercado extrativista/exportador da Amazônia.
Não tem, contudo, o objetivo de se tornar um estudo estatístico sobre o tema.
Durante
a segunda década do século XIX, entre 1848 e 1892, houve um incremento na
exportação de alguns produtos regionais, especialmente o cacau e peles de
animais. Também o comercio exterior da castanha-do-pará vai se desenvolver
rapidamente neste período (COSTA, 2012, p. 23). Esta evolução, contudo, não
será tão rápida. Assim que, entre os anos de 1857 e 1858, continuaram os mesmos
produtos a compor os principais itens da pauta de exportações do Pará (BARATA,
1915, p. 32). Isto não significa, entretanto, que a castanha não fosse coletada,
no relatório de 1857 declarou o presidente da província do Amazonas que: “
[...] os braços applicam-se principalmente á colheita da castanha e drogas
medicinaes, á extracção de oleos e da borracha. (AMARAL, 1858, p. 51).
Anos
depois é registrado o avanço da exportação de castanhas pela Amazônia,
situando-as dentre os mais importantes dos itens da pauta. Assim, já no
exercício de 1863 a 1864 a província do Pará exportou 18.862 alqueires do
produto, enquanto que a mesa de renda de Manaus acusou a exportação de 9.276
alqueires (CBEU, 1867, pp. 71-72), totalizando aproximadamente o valor de
97:145$400. Em 1867 apontava o
presidente da província do Pará, ser o cacau o mais importante produto da
agricultura daquela província. Contudo, anotava já o crescimento em importância
de outro produto extrativo: “Este ultimo producto, a goma elastica merece
especial menção. As rendas e o commercio da Provincia tem achado nella a
principal e a mais abundante fonte de sua riqueza e a alta industria tem della
tirado vantajosos recursos nos paizes estrangeiros.” (LAMARE, 1867, p. 11).
A tabela I, abaixo, demonstra o crescimento na exportação da castanha-do-pará entre 1847 e 1867:
|
Tabela I - Exportação de castanha
pela Provincia do Pará durante os ultimos 20 annos decorridos por
quinquênios, com designação de suas quantidades e valores. |
|||
|
Alqueires |
Ouriços |
Valor |
|
|
1847-1848 |
28.023 |
|
33:289$700 |
|
1848-1849 |
41.594 |
|
60.483$840 |
|
1849-1850 |
69.319 |
|
65.835$040 |
|
1850-1851 |
83.433 |
|
87.874$100 |
|
1851-1852 |
72.532 |
|
53.251$450 |
|
1.o
Quinquennio |
294.901 |
|
300.734$130 |
|
1852-1853 |
79.628 |
|
110.380$100 |
|
1853-1854 |
55.181 |
|
100.588$400 |
|
1854-1855 |
67.155 |
|
216.121$300 |
|
1855-1856 |
36.186 |
|
82.467$300 |
|
1856-1857 |
41.781 |
|
175.645$106 |
|
2.° Quinquennio |
279.931 |
|
685.202$206 |
|
1857-1858 |
88.844 |
|
290.638$600 |
|
1858-1859 |
84.068 |
15.000 |
169.831$945 |
|
1859-1860 |
43.988 |
19.778 |
220.436$080 |
|
1860-1861 |
57.533 |
35.183 |
238.728$720 |
|
1861-1862 |
50.480 |
8.204 |
182.200$325 |
|
3.° Quinquennio |
324.914 |
78.165 |
1,101.835$670 |
|
1862-1863 |
69.834 |
930 |
207.637$990 |
|
1863-1864 |
55.437 |
|
196.923$100 |
|
1864-1865 |
69.345 |
25 |
273.777$475 |
|
1865-1866 |
2.926 |
110 |
11.844$600 |
|
1866-1867 |
86.667 |
|
394.596$600 |
|
4.° Quinquennio |
284.211 |
1:065 |
1,084.7795$765 |
Fonte: LAMARE, 1867, p. 20
Quando se tratava da exportação do produto considerada ao nível nacional, a dinâmica da produção apontava “[...] que alguns d’esses gêneros, taes como cacao, herva matte, ouro em barra e castanhas do Pará tiveram um extraordinario augmento [...]” (IBGE, 1986, p. 290), Evidentemente a borracha já liderava a pauta de exportações com grande diferença de valores apurados em relação aos demais produtos, e continuaria assim, até a segunda década do século XX. Embora inferior ao cacau em valores exportados, a castanha se constituiria, particularmente na virada do século XIX para o século XX, em importante produto de exportação, conforme demonstra a tabela III.
|
Tabela
III - Brasil: Valores em papel moeda da exportação do cacau e da
castanha-do-pará (1870-1905) | ||
|
Anos |
Cacau ($) |
Castanha-do-Pará ($) |
|
1870-71 |
1.560.000 |
323.100 |
|
1871-72 |
1.899.100 |
321.000 |
|
1872-73 |
1.507.700 |
443.700 |
|
1873-74 |
1.359.600 |
533.700 |
|
1874-75 |
816.000 |
615.700 |
|
1901 |
18.424.958 |
1.599.476 |
|
1902 |
20.691.613 |
3.271.288 |
|
1903 |
20.415.376 |
3.768.270 |
|
1904 |
21.716.343 |
2.153.222 |
|
1905 |
15.759.000 |
3.517.587 |
|
Fonte: IBGE, 1986, p.
291. | ||
A
castanha, apesar deste crescimento, não se apresentava naquele momento entre os
seis maiores itens de exportação do Brasil. Contrariamente a borracha, que perseguia
celeremente o título de segundo maior item de exportação nacional, atrás apenas
do café.
O
crescimento das exportações ocorria também com o contributo dos países produtores
de castanha limítrofes ao norte do Brasil: Bolívia, Colômbia (Nova Granada), Peru
e Venezuela, que encontravam mais fácil escoamento de sua produção nas áreas
amazônicas pelo porto de Belém. Em 1869 movimento de importação e exportação destas
republicas, transportado pelas embarcações da Companhia de Navegação e Comércio
do Amazonas, atingiu os valores de 662:934$900 de exportações, que somados a 731:964$380
das suas importações totalizaram 1,394:899$280
(ALBUQUERQUE, 1870, p. 71).
Como
podemos ver na tabela IV, o Peru liderava tranquilamente este movimento de
exportação e importação das republicas vizinhas ao Amazonas pelo Brasil. Além
disto, todas estas repúblicas compartilhavam com o Brasil a Hileia Amazônica e,
assim, possuíam repositórios de castanhas em suas florestas, que pela maior
facilidade eram exportados através do rio Amazonas e seus afluentes.
|
Tabela
IV - Repúblicas limítrofes com o Brasil: mercadorias transportadas pela
Companhia de Navegação e Comércio do Amazonas (1869) | |||
|
Estados |
Importação ($) |
Exportação
($) |
Totais ($) |
|
Peru |
624:309$820 |
587:461$000 |
1.211:770$820 |
|
Bolívia |
80:305$740 |
47:532$900 |
127:838$640 |
|
Venezuela |
25:700$000 |
27:941$000 |
53:641$000 |
|
Nova Granada |
1:648$820 |
$ |
1:648$820 |
|
Total |
731.964$380 |
662:934$900 |
1.394:899$280 |
|
Fonte:
ALBUQUERQUE, 1870, p. 71 | |||
A
goma elástica e o café representavam 79,4% das exportações brasileiras entre
1901 e 1910 distribuídas assim: 27,9% para a primeira e 51,5% para o segundo
(BUESCU, 1988, p. 94). Este significativo segundo lugar na pauta de exportações
brasileira sofreu um duro golpe a partir de 1912, ocasionado pela queda dos
preços internacionais do produto. Com a queda dos preços da goma elástica na
Amazônia, os produtores voltaram-se crescentemente para outras opções
oferecidas pelo extrativismo e demandadas pelo mercado internacional.
Em que pese o prenúncio da crise do sistema gumífero, um fator estrutural ainda presente apresentava forte concurso contra o extrativismo da castanha. Trata-se da absorção da mão de obra exclusivamente na coleta da goma elástica traduzida pelo sistema do barracão, tal como praticado no sistema gumífero. Assim declarou um observador do início do século XX:
Praticamente todo o emprehendimento no Tapajóz se limita á producção da borracha. Claramente se vê um trecho de terra cultivado, a menos que não seja de cana de assucar, plantada com o fim de fabricar aguardente para vender aos trabalhadores dos seringaes. Em resposta á minha pergunta sobre os pequenos esforços feitos para produzir géneros alimentícios, informaram-me de que os pedidos dos agente e proprietários no Pará eram sempre de borracha e mais borracha, e que nenhuma fórma de cultivo de terra era encourajada pelos chefes. O numero de pequenos proprietários no Tapajóz é muito limitado, e os donos de grandes propriedades acham que seriam prejudicados nos lucros do armazém si permittissem aos trabalhadores cultivar mandioca, milho e feijão. Neste districto, sabe-se, existem, em quantidade, arvores de castanha crescendo na floresta; mas a colheita e exportação desse valioso producto são quasi inteiramente descuradas. (AKERS, 1913, p. 36)
Em
1922 acusava o presidente do estado do Pará a precaríssima situação da goma
elástica, para a qual somente via solução através do desenvolvimento de uma indústria
nacional de artefatos de borracha, destinados ao mercado interno e à exportação
(CASTRO, 1922, p. 32). Conforme se pode concluir da tabela V, acompanhava o
contexto de crise das exportações da borracha também uma forte crise no setor
cacaueiro. A castanha, contudo, apresentava expansão nos direitos recolhidos em
sua exportação, iniciando a ocupar um papel de destaque nas exportações do
extrativismo amazônico que perdura até os dias atuais.
|
Tabela
V -Pará: direitos de exportação recolhidos no triênio 1919-1921 ($) | |||
|
Produtos |
1919 |
1920 |
1921 |
|
Borracha |
3.076:611$326 |
1.418:602$101 |
767:047$538 |
|
Castanha |
528:8924189 |
599:207$700 |
841:182$230 |
|
Cacau |
266:597$407 |
108.679$746 |
77:284$380 |
|
Fonte: CASTRO, 1922,
p. 31 | |||
Assim é que, naquele ano, entre tantas lástimas, podia ainda comemorar o governador do Pará:
Dos nossos productos nativos, é incontestavelmente a castanha, no momento, o mais precioso, o mais altamente cotado nos mercados consumidores, que absorvem toda a producção. E neste sentido as nossas possibilidades são quasi infinitas tal a abundancia de castanheiras em vastas extensões de florestas virgens. (CASTRO, 1922, p. 32)
Era então o Pará, no ano de 1921, o maior produtor e exportador de castanhas do Brasil, conforme podemos constatar na tabela abaixo:
|
Tabela VI - Pará:
Exportação de castanhas em 1921 segundo as diversas procedências ($) | ||
|
Exportação
em 1921 (diversas qualidades e procedencias, hectolitros |
193.074 |
|
|
Valor
official |
|
5.171:632$540 |
|
Pará,
hectolitros |
174.517 |
|
|
Amazonas,
hectolitros |
7.474 |
|
|
Acre
Federal, hectolitros |
10.742 |
|
|
Mato-Grosso,
hectolitros |
541 |
|
|
Observação.
Nos hectolitros exportados da producção paraense estão incluidos 47 de
castanha sapucaia. Fonte:
CASTRO, 1922, p. 23 | ||
É de se ressaltar contudo que apesar de ser a castanha produzida pelo Pará a esmagadora maioria do produto, contribuíram também os estados brasileiros do Amazonas, o Acre e o Mato Grosso. Toda esta castanha encontrou seus maiores consumidores nos Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha (CASTRO, 1922, p. 24)
O nome e a castanha
Nomes
são importantes, eles nos fornecem o sentido do pertencimento e da identidade.
Não é sem razão que quando convivem diversos sujeitos homônimos, além do
sobrenome, muitas vezes o prenome destes indivíduos vem acompanhado do nome do
pai ou da mãe, do lugar de nascimento, da atividade profissional. Enfim, é
composto de variadas formas indicando algo a que ele esteja ligado. Todos estes
complementos, que seguem ao prenome fornecem o sentido de pertencimento (fulano
de sicrano) e ambos fazem parte de sua identidade. Também pela mesma razão há
uma certa resistência popular em adotar novos nomes em substituição aos
antigos. Por exemplo quando se trata da toponímia urbana, muitas vezes
passam-se décadas antes que o nome popular de um lugar, ou o nome pelo qual
tradicionalmente a população o conhecia, seja de fato substituído pelos
moradores daquele local por outro nome oficial. Não reconhecer um nome é não
admitir que ele pertence ao seu mundo.
Conforme
pudemos observar no estudo acima, apesar de escalarmos apenas uma pequena parte
de fontes documentais, à castanha que estudamos foram atribuídos pelos
estrangeiros, indígenas e brasileiros diversos nomes e todos eles forneceram-nos
certo sentido de pertencimento e identidade em tempos e lugares diferentes.
Desde
sua descoberta pelo colonizador europeu a castanha recebeu diversas
denominações não científicas: castanha-da-terra, castanha-da-Amazônia,
castanha-do-Acre, noz-amazônica, tururi, tocari, júvia (em Mato Grosso) e
castanha-do-Pará, entre outros. Também existem diversas denominações para o
produto no estrangeiro: Brazil nut,
Brasilian-she noot, Brazil nut tree
(em inglês); noix du Bresil, noix de Pará, chatãigne du Brésil (em francês);
nuez amazónica, nuez boliviana, almendra del Beni (Departamento boliviano que
faz fronteira com o Brasil no estado de Rondônia), almendro (em espanhol);
ingie noto, inginoto, iubia, iuvia, juvia, kokelero, noce del Brasil (este
último em italiano); Pará noot, Pará nuts, Paranuss (em alemão) (CANOVAS, 2023;
CAVALCANTE, 1996). Pardo, acrescenta ainda os seguintes nomes praticados no
Brasil: castanha-do-brasil, castanha, castanha-verdadeira, amendoa-da-américa,
castanha-mansa e Nuez del Brasil praticado no estrangeiro. Quanto aos nomes
indígenas, repete alguns já acima citados, mas acrescenta o grupo ou local onde
o nome é praticado: eraí para os
caruahis, iniá para os índios chipayas e tocary para os parecís. No vale do orenoco era conhecida como tucá, turury, uá, yuvia ou juvia,
nhá e niá (PARDO, 2001, p. 4). Estas
duas últimas denominações são encontradas também em Spix e Martius, que
informam sua origem indígena.[20]
Uma simples consulta na internet permite-nos constatar que não há uniformidade
na apresentação do produto, podendo, no mesmo país receber nomes diferentes nas
suas embalagens. Contudo, em diversas destas designações a castanha é vinculada
ao Pará como: noix de Pará, Pará noot, Pará nuts, Paranuss, além de
castanha-do-pará.
A
castanha-do-pará inicia a ser assim alcunhada na segunda metade do século XIX. É
descrita em uma obra sobre os produtos brasileiros apresentados na Exposição
Universal de 1867 em Paris, onde esta pesquisa deparou com o primeiro registro
do nome (CBEU, 1867, pp. 71-72). Desde então este nome foi crescentemente
usado, inclusive no restante do Brasil, conforme pudemos ver em vários
documentos convivendo, no entanto, com a simples designação de castanha. Coincide
com o surgimento deste nome o crescimento de suas exportações na segunda metade
daquele século e foi adotado também no estrangeiro.
Então,
com base nesta pesquisa preliminar, podemos concluir que o nome
castanha-do-pará foi adotado bem tardiamente, na segunda metade do século XIX,
no momento em que a produção de castanha inicia a crescer mais consistentemente.
A hipótese de que o nome castanha-do-pará deriva do nome pelo qual era
conhecida a região Amazônica no período colonial: Grão-Pará (ou simplesmente
Pará), sofre então um duro revés. Isto porque, quando o nome castanha-do-pará
passou a ser usado (embora não exclusivamente, repito), já não existia mais o
Grão-Pará como capitania conforme foi sua última condição no período colonial.
Instituído
pela carta régia de 13 de junho de 1621, o Estado do Maranhão e Grão-Pará foi
composto por estas duas capitanias, sendo a capital São Luiz do Maranhão e
ficando o Grão-Pará como capitania subalterna, com capital em Belém. Possuía
governo próprio e distinto do restante do Brasil, a saber: do Estado do Brasil.
Contrariamente a este último, que era governado por um vice-rei, o Estado do
Maranhão e Grão-Pará era governado por um capitão-general, que enfeixava em si as
funções civis e militares do governo. Sob a mesma base geográfica foi criado posteriormente,
em 1751, o Estado do Grão-Pará e Maranhão, quando então ocorreu a mudança da
capital, de São Luiz para Belém.
A
Capitania de São José do Rio Negro, atual estado do Amazonas, foi criada em
1755 com parte da Capitania do Grão-Pará, a qual era subordinada. Em 1772 as capitanias
daquele Estado (Pará e Maranhão) foram separadas definitivamente, continuando
subalterna à capitania do Pará a capitania de São José do Rio Negro. Com a
Independência do Brasil (1822) as antigas capitanias passaram à condição de
províncias. Algumas das antigas capitanias subalternas foram emancipadas mais
tardiamente, este é o caso de São José do Rio Negro que passou à condição de
província em 1850. De fato, afirmava Albuquerque em 1894: “Consoante já tive
occasião de dizer, antes de 1852 a Amazonia constituia uma unica conscripção
politico-administrativa, e por isto só depois desta época figura a provincia do
Amazonas [...]” (ALBUQUERQUE, 1894. p. 129), ou seja o que se chamava Amazônia
em 1894, de 1823 até 1852 era apenas a província do Pará.
É
então que durante o transcurso da segunda metade do século XIX ocorrerão no
Grão-Pará diversos eventos que conduzirão a uma nova concepção de Amazônia
(SANTOS, 2023, p. 5). Já em 1860 declarava um estudioso ser o antigo Estado do
Maranhão a colônia portuguesa denominada do Norte ou Amazônica (MORAES; ALMEIDA,
Tomo Primeiro, 1860, p. III). Apesar do ato de retrodicção cometido pelo autor,
a passagem ainda é válida para afirmar que já naquele ano de 1860 a região era
identificada como Amazônica.
O primeiro evento, já citado, é a emancipação da comarca do Alto Amazonas, antiga capitania subalterna de São José do Rio Negro, e sua elevação à condição de província com o nome de Amazonas. A criação da província do Amazonas foi um marco no rompimento da unidade que representava a existência da grande província do Grão-Pará. Este fato, alavancou os discursos dos representantes destas províncias nas Câmaras do Império, dando maior nitidez às percepções da região como Vale do Amazonas ou Região Amazônica (SANTOS, 2023, p. 13).[21] Outro evento importante foi a dinâmica que culminou com a abertura do Amazonas à navegação internacional, em 1867, questão que se arrastava desde a década anterior. Conforme afirma Santos:
Os deputados paraenses no parlamento brasileiro, a partir da década de 1860, inspiraram-se pelo debate da abertura do rio Amazonas à navegação internacional, que herdava outro debate sobre os interesses americanos nesse assunto, motivo pelo qual a nomenclatura Vale do Amazonas passou a circular, sendo recepcionada pelas elites políticas, que passaram a chamar essa parte do Brasil não mais de Grão-Pará, mas sim de Vale do Amazonas ou de região amazônica. (2023, p. 14)
Mesmo
nos títulos das obras publicadas sobre a região torna-se mais frequente a nova
denominação, por exemplo: “O valle do Amazonas: estudo sobre a livre navegação
do Amazonas: estatistica, producções, commercio, questões fiscaes do valle
do Amazonas” (BASTOS, 1866); “Lembranças e curiosidades do Vale do Amazonas”
(SOUSA, 1873) ou “O valle do Amazonas e os apontamentos para o Diccionario
Geographico do Brazil” (TAPAJÓS, 1888).
Já
o Barão de Marajó (Jose Coelho da Gama e Abreu) adota plenamente o novo nome da
região, já não é mais o Grão-Pará, mas conforme acusa no título de sua obra: “A
Amazonia, as provincias do Pará e Amazonas, e o governo central do Brazil” (ABREU,
1883). Explicita ainda o mesmo autor, em outro título: “As regiões amazonicas:
estudos chorographicos dos estados do Gram Pará e Amazonas” (ABREU, 1895). Para
que não reste a menor dúvida, na sua obra de 1883 registrou o barão de Marajó
que: “A região amazonica ou Amazonia, como modernamente lhe têm chamado alguns,
referindo-se aos territorios reunidos de ambas as provìncias [...]”[22] (ABREU, 1883, p. 7). Também Santa-Anna Nery, em 1889, segue por um caminho
próximo, afirmando que: “O imenso território do Brasil pode ser dividido em dez
zonas agrícolas que são: I. A Amazoniana, compreendendo as províncias do Pará e
do Amazonas [...].[23]
A
ideia de regionalização do espaço físico nacional teve suas primeiras propostas
a partir da segunda década do século XX. Destarte, não existiu, em todo o
período anterior a divisão do território nacional em regiões como as conhecemos
modernamente. As capitanias do Grão-Pará e Maranhão compunham um Estado no
período colonial. Pelo exposto, quando se supõe que o nome da castanha-do-pará,
não se deriva do atual estado do Pará, mas do antigo Estado do Grão-Pará e
Maranhão, que corresponderiam à Região Amazônica de hoje, há aqui dois equívocos.
O primeiro é que não se pode afirmar com propriedade que o antigo Estado é hoje
denominado Amazônia, pois não era uma região no sentido das modernas regiões
brasileiras; o segundo é que a atual Amazônia, enquanto região, não compreende
o Maranhão, exceto naquela área abrangida pela Amazônia Legal.
Em
outras palavras, quando falamos hoje em Amazônia, estamos nos referindo ao
conceito moderno de região, quando falávamos de Grão-Pará estávamos nos
referindo a um Estado, uma divisão colonial para fins de governo. O moderno conceito
de região, busca apropriar-se de um conjunto de características econômicas,
culturais, físicas e sociais dos estados que lhe permitam pertencer a esta
unidade. É necessário então ressaltar que a ideia de região, tal como a
compreendemos hoje, inexistia absolutamente no período anterior à
regionalização do Brasil.
Em
razão destas considerações podemos então elaborar outra hipótese: que o nome
castanha-do-pará é realmente designado para se referir àquela província. Tal
fenômeno pode, também como hipótese, encontrar sua explicação no fato de que
era por aquela província que o produto saía da Amazônia em maior quantidade,
encontrando seu destino nos portos nacionais e estrangeiros. Nestes portos o
produto era conhecido pelo seu último porto de origem, o porto do Pará. Assim é
que certo presidente da província do Amazonas, após relacionar os produtos do
extrativismo realizado naquela província, concluiu: “[...] taes os artigos de
sua mais consideravel exportação para a do Pará, d'onde alguns são condusidos
para fora do Imperio.” (PENNA, 1853).
Como
explicar então a existência de denominações que identificam a castanheira com
outros lugares da Hileia Amazônica? Parece aqui que estas denominações têm
relação com aspirações identitárias apenas. No caso do Brasil, os demais
estados que atualmente compõem a região norte devem entrar em nossas
considerações, mesmo vindo a existir após o século XX, ou seja, inexistiam quando
o nome castanha-do-pará foi cunhado.
Nos
dias de hoje a castanha é extraída em todos os estados da Amazônia Brasileira.
No Pará, ao sul do baixo Amazonas, Guamá, Capim, Acará, Moju, Tocantins,
Oeiras, Jacundá, Camaraipi, Anapu, Pacaja, Xingu, Curua de Santarém, Tapajós.
No norte do baixo Amazonas: Araguari, Maraca, Cajari, Jari, Paru, Maicuru,
Curua de Alenquer, Rio Branco (distrito de Óbidos), Curucamba. Trombetas e
afluentes: lago do Sapucaia, Jamunda (margem esquerda), Juruti. Amazonas,
regiões e rios: sul do alto Amazonas: Uicurapa, Andira, Maçari, Maues, Apucuhitaua,
Abacaxis, Canuma, Autaz, e lagos. Purus e tributários, principalmente Aiapua.
Todos os afluentes do Solimões no sul entre o Madeira e o Jutaí, principalmente
o Madeira e seus Aripuanã, Mariapaua, Matura, Atininga, Jatuarana, Capana,
Marmelos, Uruapiara, Acara, Baetas, Três Casas, Cunian, Maici, Jamari, Machado,
Jaci-Paraná e Abunã. Manacapuru, Anana, Badajoz, Caiçara, e Tefé. Alto
Amazonas, norte, Jamunda (margem direita), Urubu, Uatuman, Negro, Branco, todos
os afluentes do Solimões, ao Norte entre o Negro e o Japurá. Acre e tributários.
Bolívia: Guaporé e Beni (Schreiber, 1942, p. 21). No século XX, foram criados
na Amazônia, os territórios do Acre, Guaporé, Amapá e Roraima, com exceção do
último território, todos, hoje estados, produzem a castanha.
Quanto
aos países limítrofes outro tipo de consideração deve ser feita. A castanheira
tem seu habitat na região amazônica
desde as Guianas, sendo encontrada também no sudeste da Colômbia, sul da
Venezuela, no Alto Orinoco, leste do Peru, no Departamento de Madre de Dios e
norte da Bolívia, no Departamento de Pando, cobrindo uma área de 325 milhões de
hectares dos quais 300 milhões estão situados em território brasileiro. Desde
já, então, podemos descartar a propriedade em denominá-la castanha-do-pará, já
que o meio onde suas árvores têm ocorrência está dividido em diversos países.
Compreende-se então, em razão de que a quase totalidade da área de castanhais
que ocupa, que a produção da castanha-do-brasil possui enorme preeminência em
relação aos outros países, que conosco compartilham a Hileia Amazônica.
Finalmente
devemos ainda considerar que, embora o Brasil ocupe a maior parte das áreas de
castanhais da Amazônia, e que grande parte destas áreas esteja no Pará, a
castanha não é exclusivamente do Pará e nem especificamente do Brasil. O lugar
do pertencimento da árvore é a Amazônia natural, que não coincide as barreiras
nacionais e estaduais. O nome da região foi adotado por alguns de nossos
vizinhos, por exemplo o estado do Amazonas, na Venezuela e o departamento do
Amazonas na Colômbia. Assim, sua identidade deve ser dada pelo nome
castanha-da-amazônia, que abrigará a castanha-do-maranhão, do Acre, do Pará, da
Bolívia, enfim, de todos os países que compartilham a floresta amazônica,
habitat nativo da Bertholetia excelsa.
Por todas estas razões, terminamos concordando com a seguinte afirmação de
Carvalho a respeito da denominação castanha-do-brasil:
Essa denominação vem,
nos últimos anos, sendo contestada por organizações não governamentais e por
outros países produtores, que têm, sem sucesso, proposto o nome de
castanha-da-amazônia. (J. E. U. Carvalho, comunicação pessoal, 19 de junho de
2013, citado por SALOMÃO, 2014, p. 259)
Fontes consultadas
ABREU, Jose Coelho da
Gama e (Barão de Marajó). A Amazonia, as
provincias do Pará e Amazonas, e o governo central do Brazil. Lisboa:
Livraria Antiga e Moderna, 1883.
ABREU, Jose Coelho da
Gama e (Barão de Marajó). As regiões
amazonicas: estudos chorographicos dos estados do Gram Pará e Amazonas.
Lisboa: Imprensa de Libanio da Silva, 1895.
ACOSTA, José de (1540-1600). Historia
natural y moral de las Indias. Madrid: Casa de Alonso Martin, 1608.
ACOSTA,
José de (1540-1600). Historia natural y
moral de las Indias. Colección de Acá y de Allá. Madrid: Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, 2008.
AKERS, Charles Edmond. Traducção devidamante auctorizada do
relatorio sobre o Valle do Amazonas sua industria da borracha e outros recursos
por C. E. Akers. Rio de Janeiro: Typographia do Jornal do Commercio, 1913.
ALBUQUERQUE, Diogo
Velho Cavalcante de. Relatorio apresentado
á Assemblea Geral Legislativa na segunda sessão da décima quarta legislatura
pelo ministro e secretario de estado dos negocios da agricultura, commercio e
obras publicas Diogo Velho Cavalcante de Albuquerque. Rio de Janeiro:
Typographia Universal de E. & H. Laemmert, 1870.
ALBUQUERQUE, Luiz R. Cavalcanti de. A
Amazônia em 1893. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1894.
ALMEIDA,
José Jonas . Os Primórdios da Exploração
da Castanha-do-Pará. In: XXIII Encontro Estadual de História da ANPUH,
2016, Assis (SP). Anais do XXIII Encontro Estadual de História, 2016.
ALMEIDA,
José Jonas. Do extrativismo à
domesticação: as possibilidades da castanha-do-pará. Tese apresentada ao
Programa de Pós-Graduação em História Econômica do Departamento de História da
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo,
para a obtenção do título de Doutor em História. São Paulo: 2015.
AMARAL,
Angelo Thomaz do. Falla dirigida [sic] á
Assembléa Legislativa Provincial do Amasonas em o 1.o de outubro de 1857
pelo presidente da provincia. Rio de Janeiro: Typographia Universal de
Laemmert, 1858.
ANÔNIMO. Cozinheiro imperial.
Rio de Janeiro: Typographia de Laemmert, 1840.
ANÔNIMO. Cozinheiro nacional.
Rio de Janeiro: Garnier, s/d.
ANÔNIMO. Doceiro nacional ou arte
de fazer toda a qualidade de doces. 4. ed. Rio de Janeiro: B. L. Garnier,
1895.
BARATA, Manoel (1841-1916). A
antiga producção e exportação do Pará: estudo histórico-econômico. Belém:
Typographia da Livraria Gillet, 1915.
BASTOS, Aureliano Cândido
Tavares. O valle do Amazonas: estudo
sobre a livre navegação do Amazonas. estatistica, producções, commercio,
questões fiscaes do valle do Amazonas. Rio de Janeiro: B. L. Garnier, 1866.
BETTENDORFF,
João Filipe. Crônica da missão dos
padres da Companhia de Jesus no estado do Maranhão. 1a ed. Brasília: Senado
Federal, Conselho Editorial, 2010.
BUESCU,
Mircea. O reerguimento econômico
(1903-1913). Revista de Informação Legislativa, Brasília, ano 25, no. 99,
jul./set. 1988.
CAMPOS, Eduardo. A Descoberta do
Sabor Selvagem (A Culinária Brasileira do “Cozinheiro Nacional”).
Fortaleza: Programa editorial casa de José de Alencar- UFC, 2000.
CÂNOVAS, Raul. Bertholletia excelsa. Jardim Cor, Paisagismo
e Jardinagem. Disponível em:
http://www.jardimcor.com/catalogo-de-especies/bertholletia-excelsa/. Acessado
em 24/09/2023.
CASTRO, Antonio
Emiliano de Sousa. Mensagem apresentada
ao Congresso Legislativo, em 7 de setembro de 1922 pelo governador do estado do
Pará. S/l: s/d, 1922.
CASTRO,
Antonio Emiliano de Sousa. Mensagem
apresentada ao Congresso Legislativo, em 7 de setembro de 1922 pelo governador
do estado do Pará. S/l: s/d, 1922.
Catalogo official da Exposição
Internacional do Porto em 1865. Porto Typographia
do Commercio, 1865.
CAVALCANTE, Paulo Bezerra. Frutas
comestíveis da Amazônia. 6. ed., publicações avulsas no. 17. Belém:
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia/ Museu Paraense Emílio Goeldi, 1972
CBEU - COMMISSÃO BRASILEIRA NA EXPOSIÇÃO UNIVERSAL. O império do Brazil na Exposição Universal de 1867 em Paris. Rio de
Janeiro: Laemmert, 1867.
CHURCH, George Earl. Explorations
made in the Valley of the River Madeira from 1749 to 1868. Published for
the National Bolivian Navigation Compapy, 1875.
CIB - CENTRO
INDUSTRIAL DO BRASIL. O Brasil suas
riquezas naturaes suas industrias: volume II Industria Agricola. Rio de
Janeiro: M. Orosco & C., 1908. Edição fac-similar, IBGE, 1986.
COSTA, Francisco de Assis. Formação
rural extravista na Amazônia: os desafios do desenvolvimento capitalista
(1720 - 1970). Belém: NAEA, 2012.
CREBPIE - COMMITTEE REPRESENTING THE EMPIRE OF BRAZIL AT THE
PHILADELPHIA INTERNATIONAL EXHIBITION. Catalogue
of the Brazilian section by Brazil. Commissão, Exposição Universal,
Philadelphia, 1876. [from old catalog]. Philadelphia: Hallowell & Co.,
1876. Commission for the Province of Para.
CUNHA, Manoel
Clementino Carneiro da. Relatorio
apresentado à Assemblea Legislativa da Província do Amazonas pelo exm.° senr.
dr. presidente da mesma província na Sessão Ordinaria de 3 de Maio de 1862.
Pará: Typographia de Frederico Carlos Rhossard, 1862.
D'ABBEVILLE, Claude. História da Missão dos Padres Capuchinhos
na Ilha do Maranhão. Biblioteca Histórica Brasileira, direção de Rubens
Borba de Morais, volume XV. São Paulo: Livraria Martins Editora, 1945.
DIAS, Manuel Nunes. A Companhia
Geral do Grão-Pará e Maranhão. 2o. vol. Belém: UFPA, 1970.
DQEIBOPT - DELEGAÇÃO NA
QUINTA EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL DE BORRACHA E OUTROS PRODUCTOS TROPICAES.
Realisada em Londres, em Junho de 1921. O
Brasil Economico em 1920 – 1921. Rio de Janeiro: Typographia do Annuario do
Brasil, 1922.
FONSECA, Pedro Jose da. Diccionario
Portuguez-Latino para uso das escolas de todos os reinos e senhorios de
Portugal. 9ª. edicao. Lisboa, 1879.
GIBBON, Lardner. Exploration of
the valley of the Amazon, made under direction of the Navy department by Lewis
Herndon and Lardner Gibbon, lientenants United States Navy. Vol. 2. by
lieut. Lardner Gibbon. Washington: Robert Armstrong Public Printer, 1854.
HERIARTE, Mauricio de. Descripção
do estado do Maranhão, Pará, Corupá e Rio das Amazonas [1662]. Vienna
D'Austria: Edição por conta do Editor, 1874.
HERNDON, William Lewis (1813-1857). Exploration
of the valley of the Amazon, made under direction of the Navy department by
Lewis Herndon and Lardner Gibbon, lientenants United States Navy. Vol. 1.
by lieut. Herndon. Washington: Robert Armstrong Public Printer, 1854.
IBGE -
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. O Brasil e suas riquezas naturais: indústria extrativa. Séries
Estatísticas Retrospectivas, vol 2, tomo 1. Rio de Janeiro: 1986.
IMPÉRIO DO BRAZIL. O império do
Brazil na Exposição universal de 1873 em Vienna d'Austria. Rio de Janeiro:
Typographia Nacional, 1873.
KELLER, Franz. The Amazon and
Madeira river: sketches and descriptions from the note-book of an explorer.
New edition with sixty-eight illustrations on wood. Philadelphia: J. B.
Lippincott & Co., 1875.
LAMARE, Joaquim
Raimundo de. Administração da Província do Pará. Relatório apresentado Assemblea Legislativa Provincial por S. Exc.a
o Sr. Vice-Almirante e Conselheiro de Guerra Joaquim Raimundo de Lamare,
Presidente da Provincia, em 15 de Agosto de 1867. Pará: Typographia de
Frederico Rhossard, 1867.
LISBOA, Pedro de
Alcântara. O Auxiliador da Industria
Nacional. Periodico da Sociedade Auxiliadora da Industria Nacional. No. 2,
junho de 1850, nova série, vol, V. Rio de Janeiro: Typographia Brasiliense de
F. M. Ferreira, 1850.
MAGALHAES, Sonia Maria
de. O cozinheiro popular, a Livraria Quaresma e a divulgação da culinária
brasileira no início do século XX. História
Unisinos, vol. 23, núm. 2, pp. 270-283, 2019.
MALDONADO, Juan
Álvarez. Relación de la jornada y
descubrimiento del río Manu (hoy Madre de Dios) en 1567. Publícala Luis
Ulloa. Sevilha: Imprenta y Lit. de C. Salas, 1899.
MENDONÇA,
Marcos Carneiro de. A Amazônia na era
pombalina: correspondência do Governador e Capitão-General do Estado do
Grão-Pará e Maranhão, Francisco Xavier de Mendonça Furtado: 1751-1759. 2ª. ed.,
3 vols. Brasília: Senado Federal, Conselho Editorial, 2005.
MORAES, José de.; ALMEIDA, Candido Mendes de. Memorias para a historia do extincto estado do Maranhão cujo territorio
comprehende hoje as províncias do Maranhão, Piauhy, Grão-Pará e Amazonas.
Tomo Primeiro, História da Companhia de Jesus na extincta província do Maranhão
e Pará pelo padre José de Moraes da mesma companhia. Rio de Janeiro: Brito
& Braga, 1860.
MORAES, Raymundo. O Meu
Diccionario de Cousas da Amazonia. 2 volumes. Rio de Janeiro: Officinas
Graphicas Alba, 1931.
MORAIS, Raimundo. O meu
dicionário de cousas da Amazônia. Brasília: Senado Federal, Conselho
Editorial, 2013.
MULLER, C.H.;
FIGUEREDO, F.J.C.; KATO, AK. A cultura
da castanha-do-brasil. Brasília: EMBRAPA, Centro de Pesquisa Agroflorestal da
Amazônia Oriental, 1995.
NETTO, Ladisláu. Apontamentos
sobre a collecção das plantas economicas do Brasil para a exposição
internacional de 1867. Paris: J. B. Baillière e filhos, 1866.
NEVES, C.A. A castanheira do Pará. Revista de
Agricultura, v. 13, n. 1/2, p. 463-476, 1938.
PARDO, Median de. Estrutura genética de castanha do brasil
(Bertholetia excelsa H.B.K) em floresta e em pastagens no leste do estado do
acre. Dissertação (mestrado). Piracicaba: Escola Superior de Agricultura
Luiz de Queiroz, 2001.
PENNA,
Herculano Ferreira. Falla dirigida á
Assembléa Provincial do Amazonas no dia 1.o de outubro de 1853, em que se abrio
a sua 2a sessão ordinaria, pelo presidente da provincia; o conselheiro
Herculano Ferreira Penna. Amazonas: Typographia de M. S. Ramos, 1853.
R.C.M. Cozinheiro imperial.
10ª. Edição. Rio de Janeiro: Laemmert & C., 1887.
RAMOS, Bernardo D'azevedo da Silva; CUNHA JÚNIOR, Manoel Francisco da
(orgs). Catalogo dos productos enviados
pelo estado do Amazonas. Exposição Universal de S. Luiz (Estados Unidos da
America do Norte). Manaos-Brasil, 1904.
RIGAUD, Lucas. Cozinheiro moderno, ou nova arte de
cozinha, onde se ensina pelo methodo mais facil. Lisboa: na Offic. Patriarc. de
Francisco Luiz Ameno, 1780.
RODRIGUES, Domingos
(1637-1719). Arte de cozinha dividida em
quatro partes. Rio de Janeiro: Tipografia de J. J. Barroso, 1838.
RODRIGUES, Domingos. Arte de cozinha. Lisboa: Offic. da
Viuva de Lino da Silva Godinho 1821.
SALOMÃO, Rafael de
Paiva. A castanheira: história natural e
importância socioeconômica. Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi. Cienc. Nat.,
Belém, v. 9, n. 2, p. 259-266, maio-ago. 2014.
SANTA-ANNA
NERY, Frederico José de (1848-1901). Le
Brésil en 1889. Paris: Librairie Chales Delagrave, 1889.
SANTA-ANNA
NERY, Frederico José de (1849-1902). Le pays des Amazones, l’El-dorado, les
terres a Caoutchouc. Paris: Frinzine, 1885.
SANTA-ANNA NERY, Frederico José de (Barão de Santa-Anna Nery (1848-1901).
O país das Amazonas. tradução de Ana
Mazur Spira. 3. ed. Brasília: Senado Federal, Conselho Editorial, 2018.
SANTOS, Roberg Januário. O fim do
Grão-Pará e a institucionalização da região amazônica: o papel dos liberais
paraenses na mudança do status regional no século XIX. Bol. Mus. Para. Emílio
Goeldi. Cienc. Hum., Belém, v. 18, n. 1, 2023.
SCHREIBER, Walter R. The Amazon
Basin Brazil nut industry. Office of Foreign Agricultural Relations
Collection. Washington: U.S. Department of Agriculture, 1942.
SCHWARCZ, Lilia Moritz. As barbas
do imperador: D. Pedro II, um monarca nos trópicos. São Paulo: Companhia
das Letras, 1998.
SOUSA, Francisco
Bernardino de. Lembranças e curiosidades
do Vale do Amazonas. Belém: Typographia do Futuro, 1873.
SOUZA, Márcio. Amazônia e
modernidade. Estud. av., São Paulo, v. 16, n. 45, Aug. 2002. Available from
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142002000200003&lng=en&nrm=iso>.
access on 15 Mar. 2015. http://dx.doi.org/10.1590/S0103-40142002000200003.
SPIX, F., Johann Baptist von (1781-1826); MARTIUS, Carl Friedrich
Philipp von (1794-1868). Viagem pelo
Brasil (1817-1820). Edições do Senado Federal. 3 vols., vol. III. Tradução
de Lúcia Furquim Lahmeyer. Brasília: Senado Federal, Conselho Editorial, 2017.
TAPAJÓS, Torquato
(1853-1897). O valle do Amazonas e os
apontamentos para o Diccionario Geographico do Brazil. Rio de Janeiro:
Typographia de Serafim José Alves, 1888.
VELLOZO, Pedro Leão. Relatorio com que o excellentissimo senhor
presidente da província passou 11 administração da mesma ao excellentissimo
senhor 1.° Vice-Presidente Barão do Arary, No dia 9 de abril de 1867. Para:
Typographia de Frederico Rhossard, 1867.
[1] N. do A.: De
qualquer modo, vale registrar que em publicação de 1942, constante no trabalho
intitulado “The Amazon Basin Brazil nut industry”, seu autor, Schreiber, faz a
seguinte afirmação: “[...] castanha do Para or, translated, Para chestnut,
although it is not related to the chestnut group.” (Schreiber, 1942, p. 1)
[2] “Fruto, um
pixídio imperfeito, vulgarmente denominado de "ouriço", esférico ou
levemente depresso, com mesocarpo extremamente duro, constituído de células
pétreas (esclereídos); parte superior com uma região diferenciada
correspondendo a zona calicar; ápice com um orifício circular, cêrca de 1 cm de
diâmetro, sítio do rudimentar opérculo, imergido quando o fruto já bastante
velho.” (CAVALCANTE, 1972, p. 52)
[3] [...] y estando
aqui pregunto el governador por las almendras a un yndio y le dixo que estavan
cerca y por esto el governador mando a seis españoles con el yndio por guia que
fuesen por almendras, fueron y en dando en los almendrales acudieron los
cristianos al almendra y el yndio cuando los vio ocupados se huyo por la
montaña sin que le pudiesen aver. Ay aqui grandísima suma de almendras, [...]
(MALDONADO, 1899, p. 36)
[4] [...] y lo que
mas es grandísima suma de almendras pinas [...] (MALDONADO, 1899, p. 51)
[5] [...] y pasaron
la rropa [sic] con las canoas a los almendrales con proposito de ynvernar alli
y esperar quel tiempo diese lugar para lo que pretendían hazer que era entender
y calar la tierra y estando aqui enbio el governador un caudillo con trece
personas negros y mestizos por almendra [...] (MALDONADO, 1899, p. 36)
[6] Chachapoyas foi
fundada em 05 de setembro de 1538 com o nome de San Juan de la Frontera de
Chachapoyas. Está situada entre os Andes e a Floresta Amazônica e é a capital
do departamento peruano do Amazonas.
[7] “Pero en razón
de almendra, y aún de fruta cualquiera, todos los árboles pueden callar con las
«almendras de Chachapoyas», que no les sé otro nombre. Es la fruta más delicada
y regalada y más sana de cuántas yo he visto en Indias. Y aún un médico docto
afirmaba que, entre cuantas frutas había en Indias y España, ninguna llegaba a
la excelencia destas almendras. Son menores que las de los Andes que dije, y
mayores —a lo menos, más gruesas— que las de Castilla. Son muy tiernas de
comer, de mucho jugo y substancia, y como mantecosas y muy suaves. Críanse en
unos árboles altísimos y de grande copa, y como a cosa preciada la naturaleza les
dio buena guarda: están en unos erizos, algo mayores y de más puntas que los de
castañas. Cuando están estos erizos secos, se abren con facilidad y se saca el
grano. Cuentan que los micos —que son muy golosos desta fruta, y hay copia
dellos en los lugares de Chachapoyas del Pirú (donde solamente sé que haya
estos árboles)—, para no espinarse en el erizo y sacarle la almendra,
arrójandolas desde lo alto del árbol recio en las piedras y, quebrándolas así,
las acaban de abrir y comen a placer lo que quieren.” (ACOSTA, 2008. p. 129)
[8] A maior parte
das informações contidas sobre esse ponto foram obtidas no seguinte trabalho
acadêmico: ALMEIDA, 2016.
[9] The total
value of the exports of Para in 1869 was 12.897,598 milreis, somewhat more than
£1,000,000 sterling. The distribution over the different countries was as
folows:
|
The
United States |
5.410,015 |
milreis |
Portugal |
473,300 |
milreis |
|
England |
4.521,520 |
“ |
Germany |
454,643 |
“ |
|
France
|
1.761,178 |
“ |
The
Brazilian Provinces |
276,908 |
“ |
The
chief articles so exported were:
|
Rubber, |
worth |
9.608,721 |
milreis |
Fish
glue, |
worth |
107,503 |
milreis |
|
Cacao, |
“ |
1.271,488 |
“ |
Copaiva,
oil, |
“ |
101,745 |
“ |
|
Rawhide, |
“ |
413,220 |
“ |
Stag's
hide, |
“ |
98,448 |
“ |
|
Brazil
nuts, |
“ |
348,474 |
“ |
Sundries, |
“ |
724,038 |
“ |
|
Urucu, |
“ |
133,936 |
“ |
|
“ |
|
“ |
Fonte: KELLER, 1875, p. 117
[10] No século XIX
George Earl Church atestou o uso da estopa feita a partir da casca da
castanheira: “The canoes of the expedition were all more or less in a defective
condition owing to tho passages over the rocks. They required indispensable
repairs; consequently an appropriate place was selected to haul them out of the
water and caulk them with oakum of the country, which the chestnut trees of the
neighbouring forest gave in abundance.” (CHURCH, 1875, p. 18)
[11] Como a maioria
das nossas canoas eram tudo, menos à prova d'água, após três meses de trabalho
árduo, e especialmente depois de sere, repetidamente arrastadas por terra sobre
troncos e pedras, resolvemos calafetá-las antes de prosseguirmos. A Castanheira
(Bertholletia excelsa), cujo fruto é conhecido na Europa pelo nome de Castanha
do Pará, nos forneceu o material necessário; e, como havia muitas dessas
árvores gigantescas erguendo-se altas e retas como colunas, nossos mojos
tiveram poucos problemas para coletar uma quantidade suficiente de sua casca.
Eles primeiro fizeram com um machado duas incisões horizontais com um intervalo
de 7 pés um do outro e, em seguida, com cunhas de madeira afrouxou uma tira de
casca de cerca de 2½ pés de largura. Com a
continuação da batida a casca externa é separada do líber, e este último é
reduzido a um feixe de fibras macias, que, depois de lavado e seco no sol,
estão aptos para uso. (Keller, 1875, p. 74)
[12] N. do A:
encontramos na página da biblioteca virtual Brasiliana e Guita José Mindlin o
seguinte comentário: “O COZINHEIRO IMPERIAL OU A NOVA ARTE DA COZINHA foi
publicado pela primeira vez nos anos 1840 pela Livraria Universal de Eduardo e
Henrique Laemmert. O livro foi um sucesso editorial, tanto que, no pequeno
mercado brasileiro do século XIX, em cerca de 20 anos, teve 10 edições. Temos
na Brasiliana USP duas delas: a segunda, de 1843, e a décima, de 1887. O autor
não assina o livro e coloca apenas suas iniciais, R.C.M., nas páginas iniciais.
Em 1887, o livro foi complementado por uma emenda modernizada de Constança
Oliva de Lima. Na época, não era exatamente de bom tom um homem aventurar-se
pelo mundo das panelas e caçarolas. É provavelmente por tal razão que o livro
deve ter permanecido anônimo. Mas R.C.M. não era apenas um gourmet de quitutes
especiais, mas também um gourmet de livros. Isso mesmo. O livro O cozinheiro
imperial é uma compilação praticamente completa dos dois outros livros
portugueses clássicos de cozinha, a Arte de Cozinha, de Domingos Rodrigues,
publicado em 1680, e o Cozinheiro Moderno ou a Nova arte de cozinha, de Lucas
Rigaud, cozinheiro de D. Maria I, editado um século depois. O mais
interessante, no caso deste livro, é pensarmos nas razões de se editar um
volume no Brasil com o título cozinheiro imperial”. Nação jovem, com apenas
cerca de 20 anos de idade, e com um monarca ainda em formação, o Brasil dos
anos 1840 precisava afirmar-se como império. Nada melhor do que tomar
"emprestado" maneiras e modos das cortes europeias, ou melhor, de
Portugal, para a corte de uma jovem nação. Seríamos, desta maneira, na visão de
R.C.M., mais comprometidos com o projeto de um império se nos comportássemos
exatamente como um; como aquele que nos deu origem, ou seja, Portugal. Por esta
razão estão elencadas as receitas com produtos que não se encontravam no Brasil
da época, como alcaparras ou couves-de-bruxelas. O consumo exótico destes
produtos nos validaria como um "império" ou como uma corte que sabia
"como se comportar" no complexo jogo das nações.” Disponível em: https://digital.bbm.usp.br/handle/bbm/3828.
Acesso em 04/10/2023.
[13] Itálico do
autor. Chamo a atenção para o fato de que palavra exquisito como aqui usada
praticamente caiu em desuso no português falado atualmente no Brasil, embora, e
com o mesmo sentido, seja ainda usado na língua espanhola. Na nona edição do
“Diccionario Portuguez-Latino para uso das escolas de todos os reinos e
senhorios de Portugal” (FONSECA, 1879), cuja primeira edição data do reinado de
Dom José I (1750 – 1777), encontramos a seguinte definição: “Exquisito, TA,
adj. § 1.o excellente,
delicado (...) § 2.o Em
outra signif. v. Exacto, Selecto. § 3.o Em S. Moral, Elegan, tis, Delicatus. Exquisitus, a, um. Cic. Homem de um juízo -, Judicio exquisito
[...]”. Difere de esquisito, ainda
em uso corrente, que significa estranho.
[14] A.S.Q. O cozinheiro popular ou manual
completíssimo da arte da cozinha (1917). 7. ed. Rio de Janeiro: Quaresma
& C. livreiros, 1929.
[15] Com a excessão
que transcrevemos a seguir: “Nos Estados Unidos a Sapuicaya, conhecida como
castanha do Paraizo, é muito apreciada.” (AKERS, 1913, p. 58).
[16] Conforme
Cavalcante, 1972, existem três espécies que produzem a castanha da sapucaia: a
sapucaia propriamente dita (Lecythis
usitata, a Lecythis emepeensis
(sapucaia-do-Amapá) e a Pachylecythis
egleri (sapucaia grande).
[17] N. do A.:
vargeiro, próprio das zonas alagadiças, de várzea.
[18] “Até bem pouco
tempo a castanha de sapucaia do comércio pertencia à espécie botânica Lecythis paraensis Huber, uma árvore de
porte mediano, característica das matas de várzea alta e de terra firme do
baixo Amazonas. Uma outra espécie, L.
usitata Miers, também ocorrendo do baixo Amazonas ao estuário em matas de
terra firme, distinguia-se daquela pelos frutos e sementes menores, com pouca
cotação comercial. Estudando a família Lecythidaceae,
Knuth (1939: 63), reduziu a espécie de Huber à categoria de variedade de L. usitata,
baseado no fato de que o tamanho e a forma dos pixídios variam
consideravelmente até na mesma árvore.” (CAVALCANTE, 1972, p. 81)
[19] “Mais le
produit forestier dont l'exportation est la plus considérable, après le
caoutchouc, bien entendu, c'est le Châtaignier du Brésil. Cette Myrtacée, du
genre Berlholetia excelsa, se fait véritablement toute à tous.” (SANTA-ANNA
NERY, 1885, p. 183)
[20] “As plantas
oleosas aqui são as mesmas como em Maranhão. Só desejo ainda mencionar aqui as
amêndoas da castanha-do-maranhão, na língua indígena, nhá ou niá.” (vol. 3, p.
223)
[21] Como bem
observou Márcio Souza: A Amazônia então não era uma fronteira: este é um
conceito que foi inventando pelo Império e retomado pela República. (SOUZA,
2002, p. 32)
[22] Pará e Amazonas
[23] “L’immense
territoire du Brésil peut étre divisé em diz zones agricoles, qui sont: I. La
zone Amazonienne, comprenant les provinces de Pará e de l’Amazone [...]”
(SANTA-ANNA NERY, 1889, p. 215). N. do A.: Note-se ainda que no tempo dessa
publicação não havia ainda clara a distinção entre agricultura e pecuária.
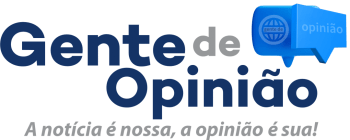 Sexta-feira, 25 de abril de 2025 | Porto Velho (RO)
Sexta-feira, 25 de abril de 2025 | Porto Velho (RO)
O ensaio que segue foi elaborado para ser apresentado na cerimônia de abertura do Seminário Integrado de Ensino e Pesquisa e a Semana de História –

Nota introdutória: Catalina o pássaro de aço nos céus da Amazônia
Nesses tempos, quando a população de Rondônia se vê ameaçada pela suspensão de alguns voos e mudanças de rota das companhias aéreas que nos servem,

Todo boato tem um fundo de verdade: o Ponto Velho, o Porto do Velho e Porto Velho
O último artigo que publiquei aqui tratou da figura do “velho Pimentel”, um personagem que, apesar de seu caráter até agora mítico, parece estar ind

A origem da cidade de Porto Velho e o velho Pimentel
Todos sabem que a origem da cidade de Porto Velho coincide com a última tentativa de construção da ferrovia Madeira-Mamoré em 1907. Naquele ano, ao
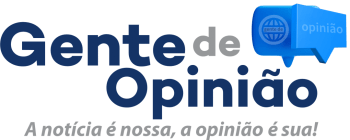 Sexta-feira, 25 de abril de 2025 | Porto Velho (RO)
Sexta-feira, 25 de abril de 2025 | Porto Velho (RO)