Domingo, 20 de abril de 2025 | Porto Velho (RO)
Quinta-feira, 12 de dezembro de 2019 - 10h47
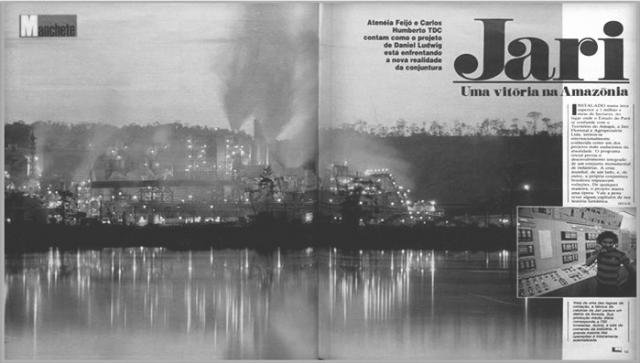
Bagé, 06.12.2019
Revista Manchete, n° 1.516
Rio de Janeiro,
RJ – Sábado, 09.05.1981
Jari uma Vitória na Amazônia
[Atenéia Feijó e Carlos Humberto]
|
A |
pesar de não haver mais
mordomias ‒ a fase do pioneirismo e das implantações terminou ‒ a vida continua
morna para os 35 mil habitantes do Jari. E ainda é possível, numa andança pelo
mato, nos arredores da silvivila São Miguel, ouvir casos do tempo do Coronel
José Júlio, o primeiro dono das terras e colonizador da região. Dom João, um
preto septuagenário de carapinha e barba brancas, por exemplo, não se faz de
rogado para uma narrativa arrastada. Chegou em 1929 do Ceará para quebrar
castanha, cortar seringa, fazer balata e tirar leite de maçaranduba para o
afamado Coronel. Se chegava de barco, na mata “virge”.
Caboclo ficava
trabalhando para o José Júlio que nem um filho. Passava cinco, seis anos. Se
pedia as contas para ver a família no Maranhão ou Ceará, o mandavam para o
Duca, no Paga-Dívida. Era morte contada. Tinha também um lugar para o castigo:
um mourão muito bem feito, fincado na morada das vorazes formigas de fogo ‒
onde o arigó era amarrado, para ser mordido por elas. Por isso houve até uma
revolução famosa no Jari ‒ a revolta do Zé Cesário.
Subverteu os
trabalhadores, que se organizaram com seus rifles de caça e tomaram de assalto
o navio que encostava por lá, uma vez por mês. Prenderam a ruindade do Duca
Nena e o capataz surrador João Ferreira no porão da embarcação. Os revoltosos
pegaram as palmatórias que os castigavam e fizeram um rosário para pendurar no
pescoço do Duca. Dos “imbigos de boi”
fizeram outro, para o do capataz. “Imbigo”
era o testículo do boi esticado e seco para fazer de chicote. Cortava a pele e
as entranhas da vítima. Quando Dom João chegou nesse mundaréu do cão, uns
cearenses o recepcionaram com a boa notícia: “Oh rapaz, chegaste numa época boa.
Aqui matavam gente”. A revolta tinha sido um ano antes. Mas os domínios ainda pertenciam ao
Coronel José Júlio, que, em 1948, os vendeu, juntamente com seu gado, para uns
portugueses, fundadores da Jari Indústria e Comércio Ltda. [a primeira
Jari...].
Já nessa época, São
Miguel Velho era um povoado com umas barracas de palha. Os negócios,
entretanto, continuavam nas leis extrativistas e coletoras da selva. A mais,
tinha os que começaram a roçar por conta própria: banana, mandioca, milho,
macaxeira, abacaxi, essas coisas. Até que a velha Jari foi vendida, em 1967, ao
americano Daniel Ludwig, e empregou os cinco filhos de Dom João. “A minha idade não permitia eu me empregar.
Para pobre já tenho princípio, não preciso me afobar. Rico não fico, e novo
piorou. Fiquei na minha casinha de pau e ninguém me molestou”. Como prova
de ter se integrado à nova paisagem da região, plantou um pé de pinheiro ao
lado do seu alpendre. A mata virgem está rasgada por seis mil quilômetros de
estradas [principais, de extração e vicinais], que se cruzam pelo projeto, onde
roncam caminhões e máquinas pesadas.
E se escuta também, além
do apito dos navios, o silvo do trem ‒ a novidade que percorre 68 quilômetros
de trilhos e transporta 800 mil toneladas por viagem, de toras de gmelina,
pinus e árvores nativas para saciar o apetite da gigantesca fábrica de
celulose. Mas os caminhos para se chegar ou sair do Jari ainda são os rios. Não
há estradas estaduais, federais, nada. Em compensação já existe uma empresa
aérea particular que faz a linha, diária, Belém‒Monte Dourado, a Cr$ 4.514,00 a
passagem.
Monte Dourado é a vila
criada pelo projeto e que virou uma espécie de capital da região. E se por
alguns anos esteve fechada, como propriedade privada, agora escancarou as
portas. Qualquer turista pode passar uma temporada em Monte Dourado. No
momento, é apenas uma questão de gosto. Existem táxis à vontade e um hotel que,
além de oferecer uma panorâmica para o rio Jari, dispõe de 30 confortáveis
apartamentos, com ar refrigerado e geladeira. Diária: Cr$ 1.500.00. Com luz
elétrica, esgoto, água encanada e coleta de lixo, a cidadezinha tem
restaurante, banco, escola, supermercado, padaria, hospital e igreja ecumênica.
As atrações, além da visita ao próprio Projeto, podem ser de passeios pelo rio,
à cachoeira de Santo Antônio e ao Beiradão. O último é um curioso povoado sobre
palafitas que já ganhou destaque internacional com a passagem de vários
jornalistas estrangeiros.
Se Monte Dourado tem 10
mil habitantes, o Beiradão não faz por menos ‒ tem outros tantos. E existe
ainda a filial Beiradinho, defronte à fábrica de celulose, no porto de Munguba.
Contrastantes, Monte Dourado e Beiradão se defrontam, separados apenas pelas
águas jarilenses: o monte nos limites paraenses e o beirado no território do
Amapá.
Na fase pioneira do
projeto, o povoado sobre, palafitas também começava a se implantar. Seus
primeiros atrativos foram a comida do Alarico, a canoa do Azul e a fama da
Motosserra. Alarico servia tartarugas e jabutis. Azul é quem atravessava o
pessoal ‒ bastava piscar a lanterna na margem do rio. E a Motosserra era a cafetina
do Brega... Hoje o Beiradão tem duas mil casas ‒ a maioria de comércio ‒ e
nenhuma infraestrutura sanitária. Mas tem Polícia e Prefeitura. Entre os
comentários locais, quem fala mais alto é o próprio prefeito, Valdemiro
Alencarzinho: “Beiradão é apelido, o nome
é Vila Laranjal, distrito do município de Marzagão. Nossa produção de borracha,
balata e castanha ficou reduzida a 30%. Todo mundo quis ir para a Jari. Emprego
é bom enquanto dura”.
|
S |
ua bronca maior se
refere à derrubada, segundo seus cálculos, de um milhão e 600 mil castanheiras,
no Pará e Amapá durante a implantação do projeto: ‒ “E só entrar na nossa terra de Marzagão, ver quantas castanheiras tem
por hectare e calcular as que foram derrubadas”. Seu empenho atual está em
criar colônias agrícolas para atender a dois mil colonos. “Os homens que nasceram e estão morrendo nessa região não têm um título
de terra!” Ele é um dos que acredita, ferrenhamente, que o verdadeiro plano
de Daniel Ludwig era criar uma possessão americana em plena Amazônia
brasileira. “Para atravessar para o lado
de lá ia precisar de passaporte”. Mas o Ludwiguizinho do Beiradão ‒ como já
é conhecido Orlando Mendes Paes Barreto ‒ dono do lojão que chegou a faturar
Cr$ 4 milhões por mês, no ano passado, não se importa com o enclave imaginário.
Porque ali, tudo gira em função do Projeto: as lojas de roupas, os prostíbulos,
as boates, os retratistas, os protéticos, os ourives e as tracaias [barcos-táxi].
Inclusive os que vivem
da coleta da castanha e do garimpo de ouro ‒ seus compradores são os
comerciantes. O ouro que tanto ouriçou as lendas em torno do Jari nunca foi
segredo para a população nativa. Ao contrário, desde as primeiras décadas do
século vem compondo o quadro de opções de sobrevivência de cada um. Atualmente,
o garimpo mais próximo fica a três dias de viagem, sem chuva. É meio dia de
carro até acima da cachoeira, dia e meio de barco e mais um dia a pé [48
quilômetros] dentro da mata, com os mantimentos nas costas. Garimpeiro velho
diz que em qualquer lugar antigo, na Amazônia, tem ouro. Mas, antes, ele lava a
terra na bateia e joga azougue [mercúrio]. Daí queima e aperta no pano. Nesse
processo, o mercúrio evapora e o que ligar é ouro. Se valer a pena, começa a
cavocar. Nos papos do Beiradão, a Serra Pelada já existia há muito tempo.
Apenas o veio do ouro ainda não tinha sido descoberto. Um ex-funcionário da
Jari, comprador na região, garante: “Aqui
tem muita gente transando ouro se o veio fosse descoberto no projeto não
haveria como escondê-lo. Os garimpeiros vão no faro, e ninguém os segura”.
|
E |
ntre as várias comitivas
governamentais que inspecionaram o Jari havia sempre alguém que no final da
visita dava o desfecho clássico: “E o
ouro?” Uma das vezes a pergunta foi feita por um militar, já no aeroporto,
diretamente a Daniel Ludwig ‒ que também fazia suas inspeções. O empresário fez
uma cara de espanto e caiu numa risada gostosa. Na verdade, o que brilha na
Jari é a celulose Kraft, de fibra curta branqueada. Ano passado, foram
exportadas 223 mil toneladas. Não houve lucro porque as despesas globais de
investimento e infraestrutura [com Monte Dourado e três silvivilas] superaram a
receita.
Os planos incluíam
várias indústrias integradas, que sofreram um retrocesso diante da situação
indefinida da legalização das terras do Projeto. Com o temperamento
abrasileirado, o diretor florestal, Johan Zweede, sintetiza: “Esse projeto nunca foi pensado para ser
apenas uma fábrica de celulose... O que aconteceu? Investimos para construir um
caminhão e fizemos um fusca!”
Além de outra fábrica de
celulose, haveria produção de papel, mais serrarias e a exploração de uma mina
de bauxita refratária. A indústria de caulim em pleno funcionamento [18 mil
ton/mês] estaria sem problemas, não fosse a recessão no mercado mundial. Na várzea
do rio Amazonas ‒ até onde vão os limites do Jari ‒ a rizicultura de São
Raimundo [nascida de um plano de subsistência] ainda está perseguindo seu ponto
de equilíbrio econômico. Com duas safras anuais. São Raimundo colheu 25.600
toneladas em 1980. Esse arroz foi vendido para os mercados de Manaus e Recife. Mas
nos seus domínios paraenses, a ordem do dia da Jari é arrochar os cintos, o
máximo possível: centenas de carros já foram leiloados: seis aviões e um
rebanho com sete mil bovinos serão vendidos: o hospital, que atendia e fazia
cirurgias gratuitas em doentes até de Macapá e Santarém, não é mais aquele.
Passou a cobrar de pessoas estranhas ao Projeto. A boca livre acabou também nas
escolas ‒ de graça, apenas para os filhos dos funcionários da Jari. De acordo
com os mais chegados à diretoria, a maré não está nem para os peixinhos. Os
custos diretos para 1981, envolvendo despesas com hospitais, educação,
restaurantes para os empregados, operação comunitária, água, eletricidade,
manutenção de estradas, transportes e aviação foram calculados num total de Cr$
926 milhões.
Com os salários de
quatro mil e poucos empregados [a média salarial no Jari é de Cr$ 25 mil], este
total deverá chegar a Cr$ 1.579.000.000,00. O ex-diretor de relações governamentais,
Carlos Frazão, garante que “o Jari está
doido que o governo tome conta disso aqui. Os diretores sempre disseram: Nós
não queremos administrar uma cidade, não queremos ser gestores públicos.
Queremos produzir polpa de celulose e cuidar das outras atividades colaterais
associadas”.
Coerentes com a sua
filosofia, entregaram ao Frazão ‒ através de arrendamento ‒ a antiga casa de
hóspedes para que a transformasse em hotel. Da mesma forma, agiram com o
restaurante do clube “staff” de Monte
Dourado, que passou para as mãos de Elisa, a esposa do hoteleiro. O casal
Frazão se entusiasmou e investe nos novos tempos: turismo no Jari. Já está até
entrando em entendimentos com agências, em Belém, para programar grupos
turísticos que queiram visitar o Projeto. Há quem ainda suspire baixinho: “Como era gostosa a nossa mordomia!” Os
próprios moradores de Monte Dourado contam que no início havia a ronda de
várias kombis para prestação de serviços. Por um código de bandeirinhas, a dona
de casa fazia suas exigências: conserto de um aparelho eletrodoméstico,
desentupimento de uma pia, refrigerantes, gás e condução. Havia voos diários
para Belém que levavam madames às compras [da moda] e ao cabeleireiro. Sem
falar na fase das frutas, bebidas importadas e nos banhos com água mineral.
Afinal, na fase pioneira tudo era válido para compensar a aventura. Com o
passar dos anos, o bom senso da maioria criticava certos exageros. Era
demais... Mas a atual realidade não diminuiu a alegria bem-comportada dos que
ficaram.
|
E |
ntretanto, os casamentos
continuam a se realizar, celebrados por Frei Juvenal. Americano radicado há 24
anos como franciscano na Amazônia, o Frei se mantém convicto na sua
irreverência. Trata-se de um motoqueiro brincalhão, sempre de “jeans”, camiseta e lencinho no pescoço.
Ele reza para o povo de cá e de lá, do Beiradão. Desespero confesso é o de
alguns jovens médicos e engenheiros do projeto, em relação ao patrulhamento
externo. São acusados por parentes, amigos e universitários radicais de
traidores, adesistas, vendidos e outras coisas no gênero. ‒ “Já cansamos de argumentar que isso aqui é um
mercado de trabalho como outro qualquer. Para nós essas terras são brasileiras.
Estamos participando da realidade nacional de uma forma atuante, testemunhando
e até fiscalizando. O Brasil é capitalista, não adianta ficar dizendo besteiras
do lado de fora, que só atrapalha”. Quando a onça das demissões esturrou
armando o bote, a médica Glória Colonnalli Pereira não teve medo. Se deixou
engolir tranquilamente pela bicha, que já tinha devorado seu marido, Paulo
Roberto, na fábrica de celulose. Pais de um garotão, nascido há três meses, o
casal pretende ficar em Monte Dourado mesmo, como autônomos. Glória fazendo
clínica particular e Roberto transando uma loja de fotografias. Tudo depende da
Jari concordar em alugar a casa para eles. Se não der certo, tentarão partir
para outro projeto: “Talvez Tucuruí...”
Glória explica o fascínio destes grandes projetos. “Ele vicia. A vida é calma, pagam bem e se pode fazer medicina
exclusiva. Para quem gosta, trata-se de uma chance para se dedicar à profissão.
Na cidade grande, com a correria, a necessidade de vários empregos, não sobra
quase tempo para o doente. Numa cidade pequena, onde não haja o apoio de um bom
hospital, também é arriscado”.
|
N |
o centro de pesquisas
florestais o clima é de tristeza: ‒ das 50 pessoas que lá trabalhavam, sobraram
13. Nesse centro se testam novas espécies, inclusive nativas, capazes de
utilização industrial. Estuda-se o comportamento do solo desde a retirada de
floresta nativa à rotação da floresta artificial, para detectar os primeiros
sinais de degradação. Faziam-se ensaios genéticos, de seleção de espécies e
competição ‒ um programa que já foi cortado e oferecido a Mauro Reis, diretor do
IBDF. O engenheiro florestal Marcos Franco ‒ 30 anos, casado e pai de três
filhos nascidos no Jari ‒ confessa que tinha vontade de pegar muita gente pelo
braço, para mostrar as pesquisas que são realizadas para a Amazônia. Uma
xiloteca [coleção de amostras de madeiras] testada e catalogada por computador
permite que se tenha, num instante, todas as informações sobre uma madeira:
cor, dureza, peso especifico etc. Nesse trabalho foram selecionadas 108
espécies nativas para celulose e 285 para aplicação comercial [movelaria,
dormentes, carpintaria]. Acompanha
também um herbário, organizado com carinho por Nilo Tomás da Silva, conhecedor
de 80% das árvores existentes na região. Velho amazonense de guerra, ele quase
sussurra: “Conheço as árvores da floresta
como conheço as pessoas”. Conhecedor de pessoas e de outras terras, Howard
King, o atual diretor executivo da Jari, tem como entretenimento favorito os
cuidados de seu próprio jardim. Aos 58 anos, há um ano e meio no Brasil, ainda
não fala português. Mas não estranha o calor da região. Afinal ele veio do Irã,
onde trabalhava num projeto governamental, que envolvia a exploração de mina de
cobre. Com o sono anda tranquilo, embalado ao som dos forrós do Beiradão ‒ sua
bela casa de madeira fica à beira do rio, defronte ao povoado de palafitas ‒
King conversa cautelosamente sobre a situação do Projeto Jari.
“Nosso problema principal é reduzir os custos. A inflação, os gastos
excessivos de operação e infraestrutura aliados ao baixo preço da celulose no
mercado mundial, nos prejudicaram bastante. Num projeto pioneiro como esse,
fora do comum, era muito difícil prever e contornar esse acúmulo de despesas.
Daniel Ludwig já investiu 850 milhões de dólares aqui, e ainda não houve
retorno. Estamos preocupados agora em implantar um Programa para usar somente
os recursos de produção. Temos que direcionar a campanha neste sentido. Por
isso, o projeto não será expandido até que a situação mude. Se nós soubéssemos,
um ano atrás que as coisas chegariam a esse ponto, não teríamos construído mais
ferrovias [para a bauxita refratária], nem desmatado áreas para novas
plantações. O problema da legalização das terras também ainda não foi
resolvido... As mudanças na situação do Brasil, em geral, afetaram o projeto.
Não é uma crítica, é um fato econômico”
|
M |
as a ferrovia que já
está construída vai continuar sendo usada, transportando madeira para a fábrica
de celulose. E as áreas desmatadas vão ser replantadas, de acordo com a lei,
com eucaliptos. Essa plantação, mais tarde, poderá preencher futuras
necessidades da fábrica. “Se Ludwig
morrer? Continuaria sem ele. Henry Ford morreu muitos anos atrás e tudo
continua. A semente já foi colocada, agora ela cresce sozinha”. Robin
McGlobn, ex-piloto americano, naturalizado brasileiro e radicado há muitos anos
na Amazônia como proprietário de madeireiras, não abandona o hábito de visitar
o Jari. Existe um motivo muito especial para isso, foi ele quem achou as terras
para seu amigo Ludwig realizar um velho sonho ‒ plantar papel e comida para ajudar
o mundo. Robin McGlobn considera Ludwig um idealista.
“Se fosse só para ganhar, sem risco, ficava em Nova Iorque, emprestando
dinheiro a juros altos”. O velho amigo do excêntrico milionário americano
defende a seguinte teoria: “Nós não
podemos ser nacionalistas. Deixa entrar o dinheiro estrangeiro. Esse foi o
sucesso dos Estados Unidos. Prova disso também é São Paulo e o Sul do Brasil.
Precisamos de mais sangue. O que temos a perder? Se um dia eu me aborrecer com
o Brasil, vou botar o terreno nas costa e ir embora? Vão ficar as terras e o
meu dinheiro aqui!” (MANCHETE, N° 1.516)
Fonte:
MANCHETE, N°
1.516. Jari uma Vitória na Amazônia [Atenéia
Feijó e Carlos Humberto] ‒ Brasil ‒ Rio de Janeiro, RJ ‒ Revista Manchete,
n° 1.516, 09.05.1981.
Solicito Publicação
(*) Hiram Reis e Silva é Canoeiro, Coronel
de Engenharia, Analista de Sistemas, Professor, Palestrante, Historiador,
Escritor e Colunista;
·
Campeão do
II Circuito de Canoagem do Mato Grosso do Sul (1989)
·
Ex-Professor
do Colégio Militar de Porto Alegre (CMPA);
·
Ex-Pesquisador
do Departamento de Educação e Cultura do Exército (DECEx);
·
Ex-Presidente
do Instituto dos Docentes do Magistério Militar – RS (IDMM – RS);
·
Ex-Membro
do 4° Grupamento de Engenharia do Comando Militar do Sul (CMS)
·
Presidente
da Sociedade de Amigos da Amazônia Brasileira (SAMBRAS);
·
Membro da
Academia de História Militar Terrestre do Brasil – RS (AHIMTB – RS);
·
Membro do
Instituto de História e Tradições do Rio Grande do Sul (IHTRGS – RS);
·
Membro da
Academia de Letras do Estado de Rondônia (ACLER – RO)
·
Membro da
Academia Vilhenense de Letras (AVL – RO);
·
Comendador
da Academia Maçônica de Letras do Rio Grande do Sul (AMLERS)
·
Colaborador
Emérito da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra (ADESG).
·
Colaborador
Emérito da Liga de Defesa Nacional (LDN).

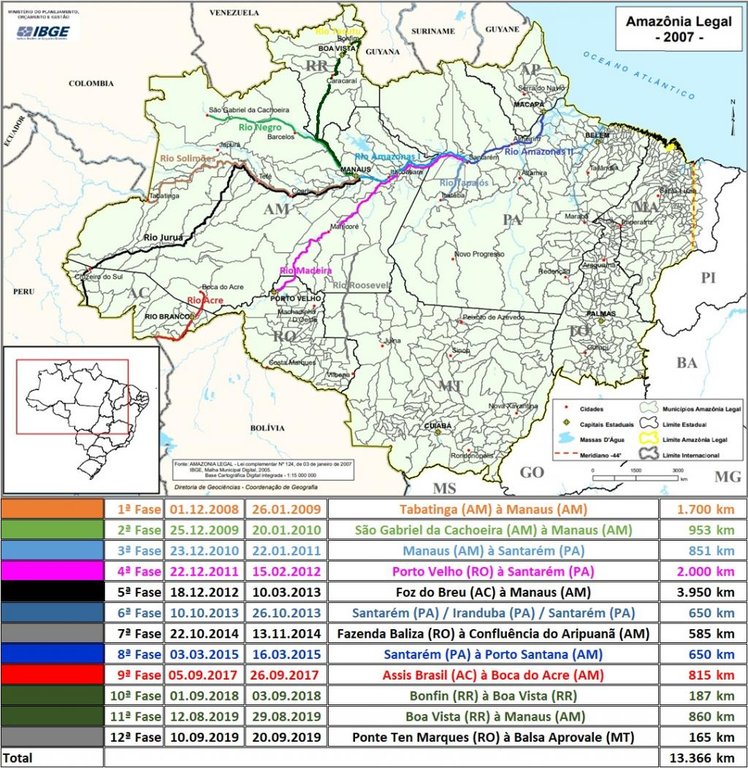
 Domingo, 20 de abril de 2025 | Porto Velho (RO)
Domingo, 20 de abril de 2025 | Porto Velho (RO)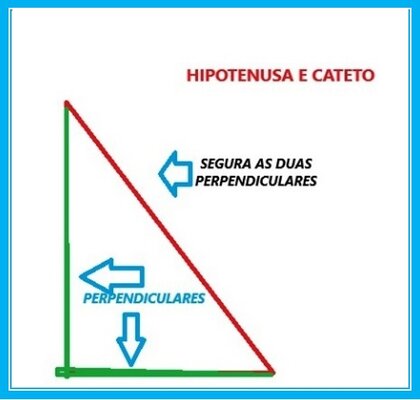
O PENTRIVIUM e o Terno Pitagórico
Porto Alegre, RS, 04.04.2025 Mais uma vez tenho a honra de repercutir um artigo de meu Mestre Higino Veiga Macedo. O PENTRIVIUM e o Terno Pitagórico
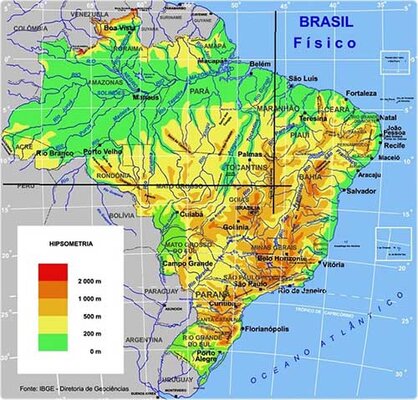
Uma Breve História da Amazônia que Conheci e Vivi
Porto Alegre, RS, 19.03.2025 Mais uma vez tenho a honra de repercutir um artigo de meu Mestre Higino Veiga Macedo. Uma Breve História da Amazônia qu

Qualquer Semelhança não é Mera Coincidência – XLVII
Bagé, 14.03.2025 Continuando engarupado na memória: Tribuna da Imprensa n° 4.316, Rio, RJSábado, 04 e Domingo, 05.04.1964 Agitadores Chineses Presos

Qualquer Semelhança não é Mera Coincidência – XLVI
Bagé, 12.03.2025 Continuando engarupado na memória: Tribuna da Imprensa n° 4.315, Rio, RJSexta-feira, 03.04.1964 Querem Trair a Revolução O País es
 Domingo, 20 de abril de 2025 | Porto Velho (RO)
Domingo, 20 de abril de 2025 | Porto Velho (RO)