Domingo, 20 de abril de 2025 | Porto Velho (RO)
Quarta-feira, 25 de dezembro de 2019 - 11h49

Bagé, RS, 24.12.2019
õõõõõõõ
Revista Manchete, n° 1.555
Rio de Janeiro,
RJ – Sábado, 06.02.1982
õõõõõõõ
Daniel Ludwig ‒ “Minha Odisseia no
Jari”
[Loren Mcintyre]
õõõõõõõ
|
A |
os 70 anos, Daniel Keith
Ludwig começou sua aventura amazônica numa idade em que a maioria das pessoas
já se aposentaram ou estão mortas. Apostou um bilhão de dólares do seu dinheiro
‒ mais do que alguém já apostou até hoje, em qualquer jogo. Seu entusiasmo pelo
Jari era tão grande quanto o de um jovem pelo seu primeiro carro e com o
primeiro grande encontro com a namorada.
Agora, aos 85 anos, tudo
indica que Ludwig perdeu sua aposta do Jari. Se assim for, trata-se de um
fracasso de alto nível. À sua maneira, realizou uma performance igual à de
outros gigantes estrangeiros, que criaram sua reputação à margem do maior rio
do mundo: o descobridor espanhol Francisco de Orellana, o explorador português
Pedro Teixeira e o naturalista inglês Henry Walter Bates. A maneira de Ludwig foi
um investimento total de dinheiro e tecnologia que se poderia esperar de
governos nacionais, mas não de um homem sozinho.
A fama não era o seu
objetivo. “Em toda a minha vida, sempre
me conservei discreto” ‒ declara ele. Não se interessa pela publicidade e
prefere que seu nome não seja citado em relação aos projetos que empreende.
Não é um homem fechado,
como a imprensa o descreve tão frequentemente. Pelo contrário, é falador,
agradável e se anima com facilidade. Mas é um tímido. Durante 40 anos, não se
sentou para responder a uma entrevista. Contudo, muitas vezes me falou sobre o
Jari, não ignorando que eu estava gravando as conversas, e me permitiu que eu o
fotografasse uma centena de vezes em sua casa, no Brasil. Nunca me pediu que
publicasse ou deixasse de publicar palavras e fotos, mas naturalmente ele supõe
que eu vou honrar sua confiança.
|
E |
le não ignorava que
algum dia eu pretendia escrever sobre o Jari, e tudo o que me pediu foi que eu
contasse a verdade. “Fale sobre a beleza
do lugar, descreva o alcance do projeto. É tão complexo que, às vezes, eu mesmo
quase não o apreendo inteiramente. Mas que D. K. Ludwig vá para o diabo!
Deixe-me de fora da sua história! Ninguém está interessado na minha pessoa”.
Agora, no momento em que sua soberania no Jari está chegando ao fim, agora que
ele se sente frustrado e está sofrendo, creio que chegou o momento de
transmitir aos leitores de MANCHETE a minha maneira de ver esse homem que
investiu um bilhão de dólares no Brasil e mudou a vida de ‒ pelo menos ‒ 100
mil brasileiros.
|
D |
K. Ludwig nasceu a 24 de
junho de 1897, em South Haven, Michigan, uma cidade que, diz ele, “tinha 800 pessoas no inverno e cinco mil no
verão”. Foi no ano em que Alberto Santos-Dumont instalou um motor num
balão, na França. A República do Brasil tinha só oito anos e menos de 17
milhões de habitantes. O Amazonas era então um rio cheio de mistérios e apenas
poucos brasileiros já tinham ouvido falar do rio Jari.
Em 1906, Ludwig
recuperou um barco afundado e começou o seu negócio de navios. Tinha nove anos.
Quarenta anos mais tarde, ele estava à frente da tecnologia avançada de
petroleiros e superpetroleiros. Operava um gigantesco estaleiro japonês que
pertencera à Marinha Imperial Japonesa durante a II Guerra Mundial. Milhões e
milhões de dólares brotavam de sua frota de navios, uma das maiores do mundo.
Investia em mineração, fazendas, hotéis, imóveis, empresas de poupança e
empréstimo. Fazia negócios em 15 ou 20 países. Sua fortuna chegava a
aproximadamente três bilhões de dólares: Apesar disso, seu nome raramente
aparecia nos jornais, e não havia um em cada dez mil americanos capaz de dizer
quem era Ludwig. E ele continua desconhecido e não reconhecido. Certa vez,
perguntei-lhe: “Por que o senhor recusa
entrevistas? Poderiam ser úteis em termos de relações públicas”. Resposta:
“Não gosto de fazer propaganda de mim
mesmo. A pior coisa que uma pessoa pode fazer é sair por aí se gabando, pois um
dia pode quebrar a cara. Relações públicas? Não me venha com essa propaganda
barata. Deixe os acontecimentos falarem por si mesmos”.
|
Q |
uanto às fotos,
observou: “Não quero facilitar a vida de
algum malandro, que poderia me reconhecer e sequestrar”. Pode parecer
paranoia dele, mas depressa percebi que não tem qualquer complexo de
perseguição. Depois de ter passado um dia inteiro assistindo a slides do Jari,
e de um agradável almoço na sua casa de Beverly Hills, na Califórnia, por acaso
levei para o meu hotel seu livrinho de endereços particular, parecido com o
meu. Nessa noite ele revirou cada canto de sua casa, na tentativa de
encontrá-lo. Em vez de ficar furioso no dia seguinte, quando nos encontramos,
ele gracejou a propósito do meu engano.
Numa pausa, durante a
sessão de fotos, arrastou-me para fora do seu palacete, com Los Angeles a seus
pés, para que eu admirasse a cascata artificial que se precipita, através do
jardim, para dentro de um tanque, pouco profundo. Mas nada aconteceu: o homem
mais rico do mundo, o homem que inventou a complicada fábrica do Jari, não era
capaz de acionar a sua pequena bomba de água.
Floresta, Água e Acesso ao Mar Formam o
Jari
“Acredito que neste mundo é preciso ter sorte”, dizia muitas vezes.
“Sorte, e certa dose de discernimento”.
Ludwig me afirmou que nunca joga dados, mas que o Jari era uma variante desse
jogo, e muito excitante, o maior de sua carreira. “Lá pelos anos 50, eu cheguei a pensar numa fábrica flutuante, ou uma
barcaça, para uma região ainda não desenvolvida ‒ como uma fábrica para
dessalinizar a água de um porto de mar na Arábia. E também imaginei que o rush
das comunicações levaria ao colapso do papel, nos anos 80. Foi então que mandei
especialistas à procura de árvores de crescimento rápido, que se prestassem à
fabricação de pasta de madeira. Foi assim que descobrimos a gmelina [Gmelina
arborea], uma árvore da Ásia. Desenvolvia-se de modo alucinado na Nigéria e no
Panamá”.
Para concretizar todas
essas ideias e tornar-se um grande produtor de alimentos e fibras nos anos 80,
Ludwig precisava de unia grande extensão de floresta tropical, água em quantidade
e acesso ao mar. Foi então que encontrou o Jari. É um afluente sombrio, que se
precipita das alturas desertas da Guiana em um curso cheio de quedas de água,
alarga-se, se aprofunda e se funde no braço norte do Amazonas, antes que o mais
poderoso dos rios chegue ao mar.
Apenas alguns habitantes
com sangue misto ‒ de índios, colonizadores portugueses e escravos negros ‒
viviam então nessa área às margens do rio Jari.
|
Durante séculos, eles extraíram
a castanha-do-pará e a borracha das selvas nativas. A lei da região era
estabelecida por uma sucessão de pequenos ditadores. O último deles foi o
famoso coronel José Júlio de Andrade, cujo nome hoje é lendário.
Os velhos colonos contam
outras histórias a respeito dele: que Zé Andrade era um assassino e que ainda
vive num palácio na Rua São Jerônimo, em Belém. O fato é que, em 1948, ele
vendeu à Companhia de Comércio e Navegação do Jari uma pequena firma portuguesa
que colhia castanhas e criava bois e búfalos. Em 1967, a Jari foi comprada pela
Universe Tankships Inc., uma empresa de Ludwig.
Eu me admirei da audácia
de Ludwig, há alguns anos, quando me encontrei pela primeira vez com Clayton
Posey, uma sagaz guarda florestal, que, desde o começo supervisionou as
plantações do Jari. Posey irradiava confiança mas parecia nada saber a respeito
de se, quando, onde ou como essa tal gmelina se desenvolve, essa gmelina que,
plantada pela primeira vez em 1969, seria mais tarde transformada em papel. Por
essa época, Ludwig ainda não se tinha atirado com unhas e dentes ao Projeto
Jari.
Não ignorava que Henry
Ford tentara criar seringueiras perto de Santarém. Tendo começado em 1927. Ford
enterrou milhões num projeto quase tão grande quanto o Jari, até que desistiu
em 1945. Mas Ludwig, não. Suas equipes de cientistas continuaram
experimentando. A gmelina se desenvolvia bem na terra barrenta de Jari, mas, na
areia, definhava.
Assim, para o terreno
arenoso foi trazido o pinheiro do Caribe: e onde nem mesmo o pinheiro crescia a
solução foi o eucalipto. “O eucalipto é
uma árvore milagrosa” ‒ exclamou Ludwig. “Você acredita que ele começa com uma semente tão fina quanto um cabelo
humano e 18 meses depois já mede oito metros de altura e tem 110 milímetros de
diâmetro? É a solução para as nossas necessidades energéticas”.
Desde o nascimento do
projeto. Ludwig se preocupava com o fornecimento de energia, pois a manufatura
de polpa e de papel é uma das maiores consumidoras de energia da moderna
indústria, e a pobreza do Brasil quanto a combustíveis fósseis chega a ser
calamitosa.
Seria tão demorado
mandar construir uma usina hidrelétrica na Cachoeira Santo Antônio que a
solução mais rápida parecia ser a madeira. Grandes extensões da mata nativa
teriam que ser derrubadas para abrir espaço às novas plantações de árvores, e
seguramente uma gigantesca quantidade de energia poderia ser aproveitada da
floresta derrubada.
Com George Weyerhauser,
o rei dos madeireiros americanos, contribuindo com a verba, Ludwig tentou e
fracassou, quatro vezes, projetar uma fábrica que extraísse energia de madeira
seca, em custos compensadores.
“Finalmente chegamos a uma fábrica de queimar madeira que é espetacular!”,
comentou Ludwig, dando uma gargalhada. “Economizamos
até 20 milhões de dólares por ano, queimando uma fonte de reservas que é
diariamente recarregada pela energia solar”. A máquina queimava toras de
madeira seca para gerar vapor ‒ que fazia girar turbinas ligadas a geradores
elétricos.
A Crise do Petróleo Iniciou as
Dificuldades
“Tudo o que eu queria pelo negócio eram os direitos para que o Brasil
construísse e operasse a fábrica. Embora ela possa funcionar tanto com petróleo
quanto com madeira, o Brasil simplesmente não tem como fazer face a despesas
com um aumento na importação de petróleo”.
Em 1973, o preço estabelecido
pela OPEP obrigou Ludwig a cancelar alguns contratos de superpetroleiros. Ele
pediu que o estaleiro japonês planejasse como construir uma enorme fábrica para
queimar madeira, de acordo com suas especificações, e a instalasse numa barcaça
capaz de resistir às tempestades no mar.
|
Também pediu um projeto que
reduzisse o moinho para polpa de papel ‒ a fábrica de celulose que normalmente
ocupa um espaço de muitos hectares ‒ às dimensões de um casco de navio. Ambas
as barcaças seriam carregadas com maquinaria da Europa, da Ásia e dos Estados
Unidos. Os componentes seriam produzidos em 20 diferentes fábricas japonesas,
situadas perto de portos de mar. Esses componentes seriam levados para Kure,
onde seriam içados por um guindaste capaz de suspender mil toneladas.
“Enquanto isso, em 1976, embarquei 13 mil toneladas de gmelina do Jari
para a Finlândia, para ser transformada em polpa, e depois em papel, com o
objetivo de testar sua qualidade e possibilidade de comercialização. Ao
atravessar o Equador, brotaram folhas em três troncos que tinham sido alojados
no convés. Centenas de finlandeses vieram até o porto para ver o navio
carregado de folhagem.
Os estivadores recusaram-se a descarregar a gmelina
antes que a carga fosse examinada, para ver se havia cobras! Enfim, o papel
feito com a polpa da gmelina foi experimentado por toda a Europa. E revelou-se
excelente”. Chegou a vez, então, de
Ludwig lançar os seus dados, entregando-se à tarefa de construir a usina de
energia e o moinho de polpa: investiu nisso 269 milhões de dólares. As fábricas
gigante foram instaladas em barcaças e bem amarradas para poderem enfrentar uma
viagem por mar, que equivaleria à metade de uma volta ao mundo.
“Construí-las levou menos de um ano. Os japoneses são fantásticos, como
construtores de navios. Não tínhamos como construir as barcaças no Brasil, nem
mesmo nos EUA ou na Europa, nem que pagássemos o dobro, e deus sabe quanto
tempo teríamos que esperar além de um ano. Algumas pessoas me criticaram,
dizendo que eu deveria ter construído toda a fábrica na selva do Jari, desde o
começo, usando mão-de-obra e materiais brasileiros. Mas como, num lugar onde
não há cidade, nem infraestrutura, nem mão-de-obra, nem materiais, nada, a não
ser a selva?
Penso que mostrei o modo como fábricas caras podem ser
construídas e transportadas para qualquer porto de mar do mundo — nos prazos, e
dentro do orçamento previsto”. Durante
os primeiros três meses de 1978, estes dois maciços complexos industriais ‒
usina de energia e fábrica de celulose ‒ foram rebocados do Japão, passando
pelo mar das Filipinas e, através do Atlântico, chegaram ao Brasil. “A chegada desse fabuloso complexo fabril foi
um momento inesquecível em toda a minha experiência no Jari. Voando sobre o
Atlântico, eu e o piloto víamos embaixo um pequeno retângulo de prata puxado
por um rebocador”.
Era a usina de energia
que tanto apaixonava Ludwig: uma caixa de aço com 30 milhões de quilos, maior
do que dois campos de futebol, aberta em cima, com equipamentos que tinham a
altura de um prédio de 20 andares. Esse Leviatã consumiria 2 mil toneladas de
madeira por dia e as transformaria em 55 megawatts de eletricidade. Cinco dias
depois chegava a barcaça com a fábrica de celulose. Pesava quase tanto quanto a
outra e era ligeiramente mais comprida, 230 metros. As barcaças foram suspensas
em diques construídos com troncos de maçaranduba, que não apodrecem, a fim de
ficarem acima do nível das margens.
Uma Operação que Nunca Fora Tentada Antes
Foi como aterrissar na Lua: não havia condições para testes e experiências. Quando os diques foram esvaziados, os dois cascos se fincaram nas estacas, em seco. Ligados por correias de transmissão aos equipamentos das margens, tudo dera perfeito. O alinhamento entre a parte de terra e a parte que viera flutuando teve a diferença de apenas seis milímetros!
|
“Em 1979, a fábrica acendeu as caldeiras e suas milhares de peças
começaram a se mexer no coração do Jari. Se nunca parasse, poderia produzir,
por dia, 750 toneladas de polpa [que nessa época valiam 300 mil dólares], o
bastante para cobrir os custos com a derrubada da mata nativa, plantio de
árvores e pagar às 30 mil pessoas cuja vida estava ligada a esse trabalho.
Metade dessa gente ‒ auxiliares, técnicos, pessoal da administração e famílias
‒ vivia em novas cidades, criadas pela empresa. Todos, menos 60, eram
brasileiros. Os estrangeiros constituíam uma Sociedade das Nações: canadenses,
japoneses, finlandeses, peruanos, indonésios, americanos e argentinos, para só
me referir a algumas nacionalidades”.
O quartel-general ficava
em Monte Dourado, mas Ludwig não gostava do nome porque não paravam de lhe
perguntar onde ficava a mina de ouro, que naturalmente não existe. A essa
altura, ele tinha ali aplicado, durante 13 anos, 180 mil dólares por dia. E não
tinha tirado nenhum lucro disso. Estava com 82 anos, ansioso de ver o projeto
tornar-se rendoso. Para um homem que nunca jogou os dados, havia feito uma
aposta elevada. ‒ Por que é que o senhor fez isto? ‒ perguntei-lhe um dia. ‒ “Por quê? Pelo sentido de realização”. ‒
Não foi para ganhar dinheiro? ‒ “Não foi
só por isso, de modo nenhum. Se o dinheiro fosse tudo o que eu desejava, teria
comprado metais, ou diamantes, ou qualquer outra dessas coisas estúpidas que
nada produzem, e sentaria o. rabo numa cadeira esperando que o seu valor
aumentasse. Não. Eu tiro a minha satisfação daquilo que o dinheiro pode fazer.
Por exemplo: fundar a cidade de Monte
Dourado, que proporciona um modo de vida a 30 mil pessoas? Não sou um
filantropo que, distribui dinheiro pelos brasileiros necessitados. Pago às
pessoas para que me ajudem a pôr de pé um projeto que é válido apenas para o
Brasil e abastecerá o mundo com o papel de que ele precisa”.
‒ Mas o senhor sente-se
orgulhoso de levar a civilização a essa parte do mundo? ‒ “Nem orgulhoso nem humilde. É apenas parte da
infraestrutura necessária. E tenho suado sangue para financiá-lo. Mas não me
critique por Beiradão, aquele lugar em cima do rio. A ideia não é minha.
Beiradão também não existia quando visitei o Jari pela primeira vez. É uma
cidade que explodiu sem ser planejada, que brotou sobre estacas ao longo da
margem e por cima do rio, partindo de Monte Dourado. É supervisionada pelo
governo do Amapá. Poucas pessoas ‒ exceto bandos de crianças ‒ pensam no
Beiradão como um lar.
Mas sete ou oito mil emigrantes que ali chegaram de
barco bebem, dançam, trabalham, rezam, compram, vendem, espiam. Alguns técnicos
do Jari, com tendência a beber cachaça e fazer o que têm vontade de noite,
moram em Beiradão. Um deles explicou: Sou do Rio. Não aguento as emanações de
soda espocando de Monte Dourado. É um trabalho muito antisséptico, exceto
quando você está doente e então, é claro, fica satisfeito com os cuidados com
sua saúde que a cidade do Sr. Ludwig oferece juntamente com o emprego”.
Beiradão não tem
automóveis ou estradas: somente um passeio de tábuas. É ligada a Monte Dourado
por um tráfego de 24 horas de barcos a motor e pirogas. Quando ofereci a Ludwig
algumas fotos aéreas de Monte Dourado, ele escolheu aquelas que não mostravam
Beiradão.
|
E |
stá construído no pior
lugar possível. É fossa sanitária sob um passeio de tábuas” ‒ disse ele.
Perguntei se já havia visitado Beiradão. Ele apenas comentou: “No Brasil, você deve sempre deixar uma
margem de árvores ao longo do rio. Quando o projeto estiver rendendo dinheiro,
eu gostaria de construir uma nova cidade em nível mais alto, no lado do Amapá”.
Ludwig fica perplexo com
as acusações de que o Jari está destruindo o meio ambiente. Homem nascido no
século 19, líder da revolução tecnológica americana no século 20 que prevê um
mundo de fome e necessidade no século 21, ele disse que “somente estúpidos censurariam o uso de 3% da Bacia Amazônica para
prover alimento e papel para o futuro”. Ludwig estranha a frase “surpreendentemente frágil ecossistema”,
que é frequentemente usada em descrições da selva amazônica.
Sempre acreditou,
juntamente com a maioria dos habitantes da região, no velho ditado que diz: “Enquanto você está tirando a selva de sua
porta, ela está entrando pelas janelas”. “Gastei cinco milhões de dólares por ano apenas para derrubar a
vegetação selvagem que nasce entre nossas árvores plantadas”.
A Campanha dos Ecologistas Contra Ludwig
Ele cria gado de corte
entre os pinheiros para pisar e comer ervas daninhas. “Algum dia produziremos o quilo mais barato de carne no Brasil, numa
terra que todo mundo considerava sem valor. Isso não é nenhum sonho impossível.
Já provamos que podemos fazê-lo. E, na metade da década de 80, espero prover o
Brasil com suficiente arroz para exportar”.
Em 1972, fiz fotos
aéreas de uma cultura experimental de arroz. Seis anos depois, a várzea de 200
mil hectares sem árvores na parte sul do Jari tinha sido tratada com canais,
diques e bombas d’água. Vi 4 mil hectares sendo cultivados. “Semeamos de avião e colhemos com máquinas”
‒ diz Ludwig. “Tivemos duas colheitas por
ano, dez toneladas por hectare, um rendimento elevado, em padrões mundiais”.
O objetivo dele era 140 mil toneladas por Ano. “Os motoristas das segadeiras são extremamente talentosos se
considerarmos que eles nunca dirigiram nada maior do que uma canoa. Jogamos
fora seus remos e os pusemos nas máquinas. Em duas semanas, eles fizeram um bom
trabalho. Estou certo que se alguns gerentes fossem tão rápidos para aprender
quanto eles tudo seria melhor. É muito difícil fazer um bom trabalho com más
ferramentas. A dificuldade é que ninguém quer viver no Jari. Muito longe do
brilho das luzes de uma grande cidade. Mas o clima é adorável!”
Certa vez, fui com Ludwig
visitar magnífica plantação de pinheiros, onde as árvores são plantadas em
fileiras pares, como ele imaginou muito tempo atrás. “Sempre quis plantar árvores como fileiras de milho. Não há motivo para que isso não possa ser. Feito”.
Mencionei as preocupações
dos ecologistas de que ele era o típico predador, envolvido num esforço para
destruir a grande floresta primitiva brasileira, o que ocasionaria negativa
repercussão mundial. “A erosão obstruiria
rios ‒ dizem eles ‒ e um número incontável de plantas, animais e indígenas
morreria”.
Outros predizem mudanças
arrasadoras no clima por causa da queimada: o aumento de dióxido de carbono na
atmosfera aumentará a temperatura, derreterá o gelo polar e os oceanos,
aumentados de nível, inundarão as cidades. “Diabos,
foi só isso que fiz de errado?
Alguns brasileiros me acusaram de ter roubado um pedaço
de seu país, estabelecendo um império particular e criando meu próprio
exército. Mas isso não é nada.
Uma revista norte-americana disse que eu sou o grande
mercador da morte na Amazônia, metralhando os índios do Xingu e enterrando
aldeias com meus tratores. Esses idiotas não sabem nem me situar no rio certo.
É uma distância danada de grande do Jari até o Xingu! É claro que esses idiotas
jamais mencionariam o hospital do Jari, mesmo se estivessem informados sobre
ele. Começamos com 1 médico e 4 pacientes. Agora temos 22 médicos e os
pacientes estão chegando de todos os brejos do Pará e do Amapá. Fazemos o
melhor que podemos por eles”.
Refleti sobre os problemas
de saúde do próprio Ludwig. Só consegue ficar em pé à custa de grande esforço;
sente sempre muitas dores, e recusa drogas. Teve a espinha atingida na explosão
de um navio há muitos anos, e o mal está piorando. Quando viaja de avião,
compra três ou seis assentos na traseira da aeronave, a fim de que possa
deitar-se e esticar o corpo ‒ daí a lenda de
que Ludwig é tão pão-duro que só viaja na
classe turística. Tem muita fé nos médicos. Infelizmente, eles estão sempre
lembrando-lhe a idade e dizendo-lhe para ir devagar. Os médicos convenceram-no
também de que, uma vez que não tem herdeiros, deveria deixar sua fortuna para a
pesquisa do câncer. Apesar de eu não ter nada com isso, uma vez mencionei a
Ludwig minha crença no maior merecimento da pesquisa de outras doenças. A do
câncer já é maciçamente patrocinada e progredira muito pouco na década passada.
Ele replicou que sua decisão foi guiada pelo fato de que a maior parte de seus
velhos amigos morrera de câncer. Repentinamente, dei-me conta de quão solitário
ele devia ser. A mulher dele já passou dos oitenta anos e recentemente quebrou
um lado da bacia, e depois o outro.
A Necessidade de Novos Investimentos
Em 26.10.1979 Ludwig
entrou na grande fábrica de celulose pela primeira e última vez. Ele me encontrara
lá antes do amanhecer para tirar retratos em frente da usina de energia.
Dormira apenas duas horas, parecia exausto e suas costas o estavam matando de
dores, apesar disso mostrou-se cortês e bem-humorado. Enquanto esperávamos pela
luz do dia, perguntou-me se eu me incomodava caso ele fugisse uns dez minutos
para dar uma olhada na usina. Ele chegara ao Brasil ano e meio atrás, mas nunca
entrara lá.
Quando retornou,
perguntei-me em voz alta por que ele nunca tinha inspecionado aquela enorme
estrutura, que era de longe o projeto mais caro de toda a sua vida. ‒ “Bem, a conquista é que é excitante. Uma vez
conseguido, há que esquecer e preocupar-se com o futuro. Mas se Deus for
bondoso e eu não morrer, nem ir à falência, e o dinheiro não acabar... em mais
dez anos este projeto estará trazendo um bom dinheiro para o Brasil”.
‒ Por que não mais cedo?
‒ “Não estamos livres de embaraços. Não
consigo uma definição legal dos limites de nossas propriedades. Não consigo
permissão da Eletrobrás para construir uma hidrelétrica rio acima. Pior que
tudo, não consigo autorização para trazer do Japão uma fábrica flutuante de
papel. Com isso conseguiremos fabricar nosso próprio papel aqui, com a nossa
própria matéria-prima. Poderíamos utilizar outra fábrica de papel. Se eles não
me deixarem terminar o projeto, não sei como conseguirei dar a volta por cima.
Sou otimista. Mas, neste mundo de Deus, o único meio de fazer com que isto vá
para frente é trazer outra plataforma do Japão. Para construir uma similar no
Brasil, segundo os cálculos, precisaríamos de um mínimo de 6 anos e os custos
seriam 200 por cento mais elevados. 200% a mais! Seis anos!”
‒ O senhor se arrepende
de ter entrado nesse negócio? ‒ “Bem, se
não tivéssemos topado a parada, não teríamos aprendido nada. Se eu,
pessoalmente, não puder tirar proveito da experiência, o Brasil poderá, por
exemplo, explorar algumas das novas madeiras que tentamos vender na Europa.
Temos 400 espécies diferentes de essências em nossas terras. Sou como a garota que
teve de ficar grávida para ver o que era gostoso. Simplesmente, espero não ter
que abortar”.
Ao pôr-do-sol, tirei uma
fotografia dele na usina e penso que se sentiu tão orgulhoso quanto ousava
sê-lo. Saímos e chegamos a um lugar onde os trabalhadores estão queimando os
restos de uma velha ponte. Ludwig mandou o carro parar, saltou e retirou uma
tábua do fogo.
“Olhe aqui” ‒ gritou ele para o feitor. “Esta tábua é de mogno brasileiro. É a madeira mais maravilhosa que
existe no mundo. Faça alguma construção com ela, venda-a, mas não a desperdice
queimando-a desta maneira!” O Sol estava desaparecendo. Ele diminuiu
novamente a marcha do carro e se virou para mim. ‒ “Não é verdade que o Jari é o lugar mais bonito que você já viu, em toda
a sua vida?” A última vez que vi Ludwig ele estava indo para o trabalho,
como de costume, em seu escritório de Nova Iorque. Recuperava-se de uma
operação e andava com duas bengalas e uma enfermeira ao lado. Eu tinha ouvido
dizer que estavam vendendo o Jari e fiquei imaginando que outro projeto ele
estaria planejando para o futuro. Lembrei-me de nosso breve encontro na
floresta de pinheiros do Jari. Ludwig ficou sem dizer nada e eu tinha
fotografado a nova floresta de celulose que substituíra a velha mata do Jari.
Fiquei pensando que tudo aquilo era a consequência do rush das comunicações, da
atual demanda de papel e do programa elaborado por Ludwig para dar uma resposta
a esse desafio do século 21. Acabei dizendo: Esses ecologistas que querem
derrubá-lo deveriam pensar que toda essa celulose torna possível a publicação
de suas críticas. Por que eles não culpam Gutenberg e sua descoberta da
imprensa? ‒ “Quem é o diabo desse
Gutenberg?”, perguntou D. K. Ludwig. ‒ “Um
amigo seu, por acaso?” Será que ele estava brincando? Jamais poderei saber.
(MANCHETE, N° 1.555)
Fonte:
MANCHETE, N° 1.555. Daniel Ludwig ‒ “Minha Odisseia no Jari” [Loren Mcintyre] ‒ Brasil
‒ Rio de Janeiro, RJ ‒ Revista Manchete, n° 1.555, 06.02.1982.
Solicito Publicação
(*) Hiram Reis e
Silva é Canoeiro, Coronel de Engenharia, Analista de Sistemas, Professor,
Palestrante, Historiador, Escritor e Colunista;
·
Campeão do
II Circuito de Canoagem do Mato Grosso do Sul (1989)
·
Ex-Professor
do Colégio Militar de Porto Alegre (CMPA);
·
Ex-Pesquisador
do Departamento de Educação e Cultura do Exército (DECEx);
·
Ex-Presidente
do Instituto dos Docentes do Magistério Militar – RS (IDMM – RS);
·
Ex-Membro
do 4° Grupamento de Engenharia do Comando Militar do Sul (CMS)
·
Presidente
da Sociedade de Amigos da Amazônia Brasileira (SAMBRAS);
·
Membro da
Academia de História Militar Terrestre do Brasil – RS (AHIMTB – RS);
·
Membro do
Instituto de História e Tradições do Rio Grande do Sul (IHTRGS – RS);
·
Membro da
Academia de Letras do Estado de Rondônia (ACLER – RO)
·
Membro da
Academia Vilhenense de Letras (AVL – RO);
·
Comendador
da Academia Maçônica de Letras do Rio Grande do Sul (AMLERS)
·
Colaborador
Emérito da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra (ADESG).
·
Colaborador
Emérito da Liga de Defesa Nacional (LDN).
·
E-mail:
hiramrsilva@gmail.com.
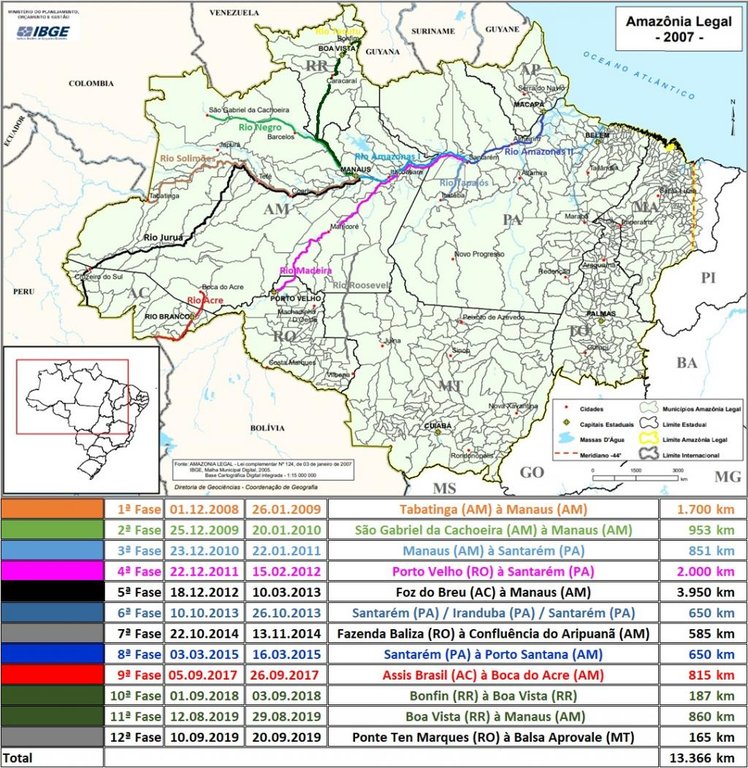
 Domingo, 20 de abril de 2025 | Porto Velho (RO)
Domingo, 20 de abril de 2025 | Porto Velho (RO)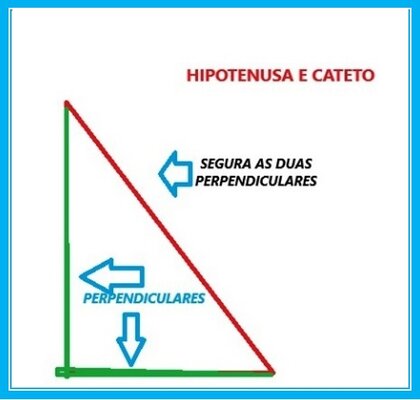
O PENTRIVIUM e o Terno Pitagórico
Porto Alegre, RS, 04.04.2025 Mais uma vez tenho a honra de repercutir um artigo de meu Mestre Higino Veiga Macedo. O PENTRIVIUM e o Terno Pitagórico
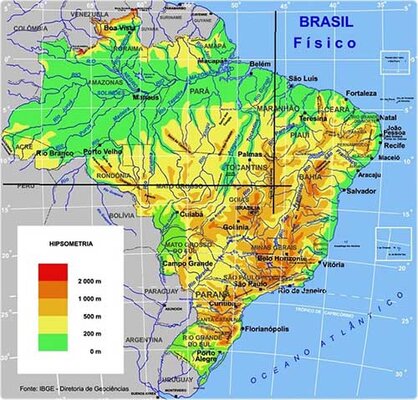
Uma Breve História da Amazônia que Conheci e Vivi
Porto Alegre, RS, 19.03.2025 Mais uma vez tenho a honra de repercutir um artigo de meu Mestre Higino Veiga Macedo. Uma Breve História da Amazônia qu

Qualquer Semelhança não é Mera Coincidência – XLVII
Bagé, 14.03.2025 Continuando engarupado na memória: Tribuna da Imprensa n° 4.316, Rio, RJSábado, 04 e Domingo, 05.04.1964 Agitadores Chineses Presos

Qualquer Semelhança não é Mera Coincidência – XLVI
Bagé, 12.03.2025 Continuando engarupado na memória: Tribuna da Imprensa n° 4.315, Rio, RJSexta-feira, 03.04.1964 Querem Trair a Revolução O País es
 Domingo, 20 de abril de 2025 | Porto Velho (RO)
Domingo, 20 de abril de 2025 | Porto Velho (RO)